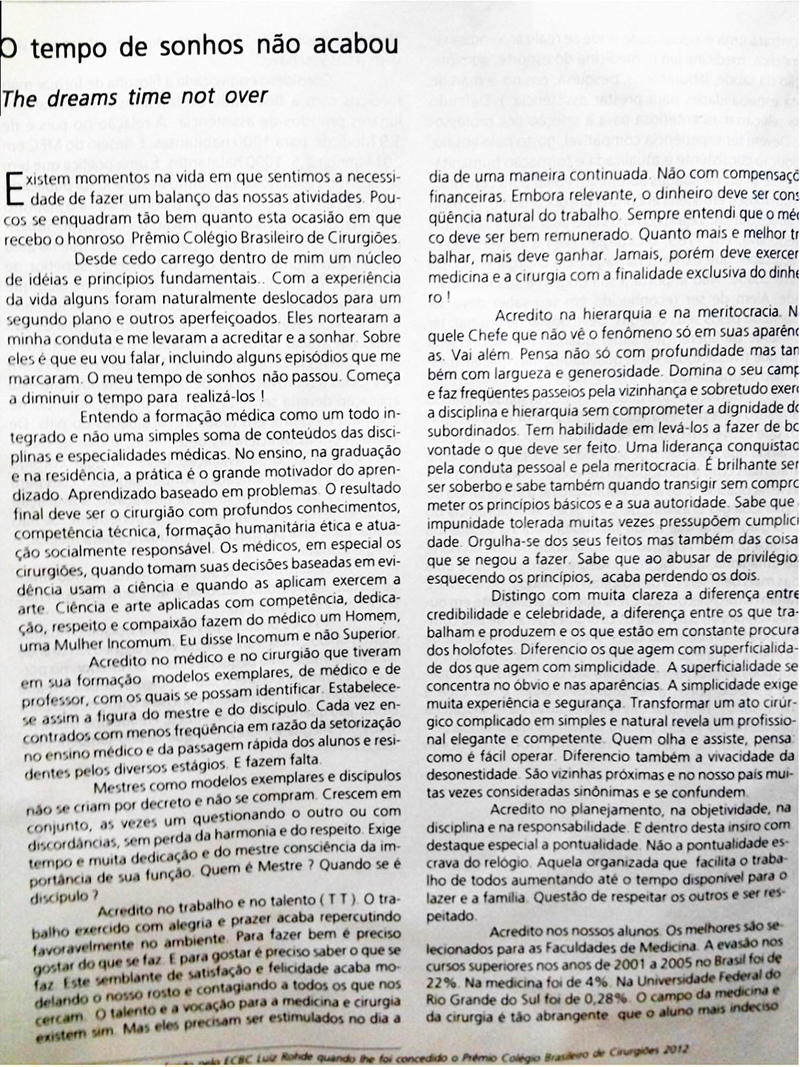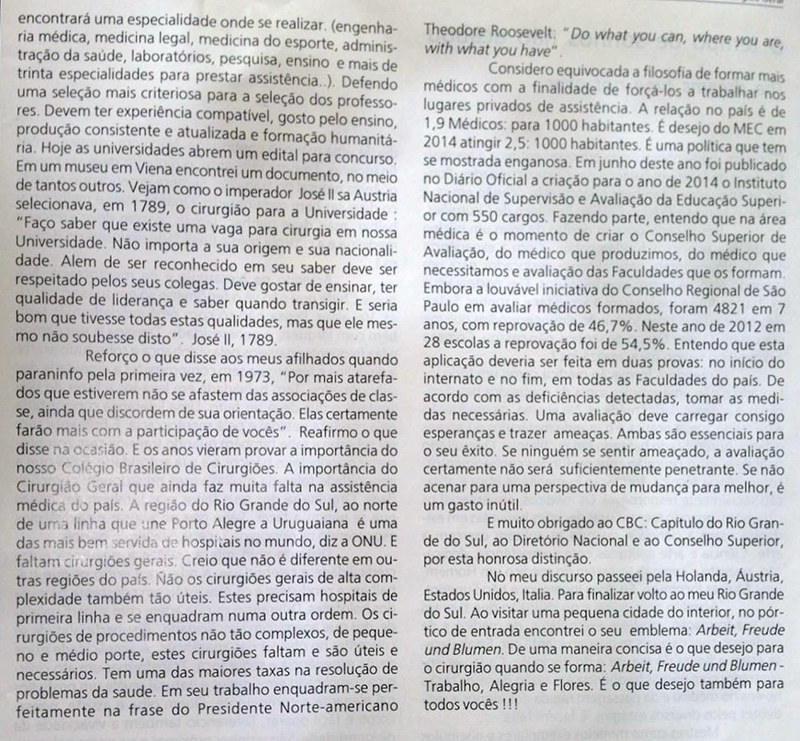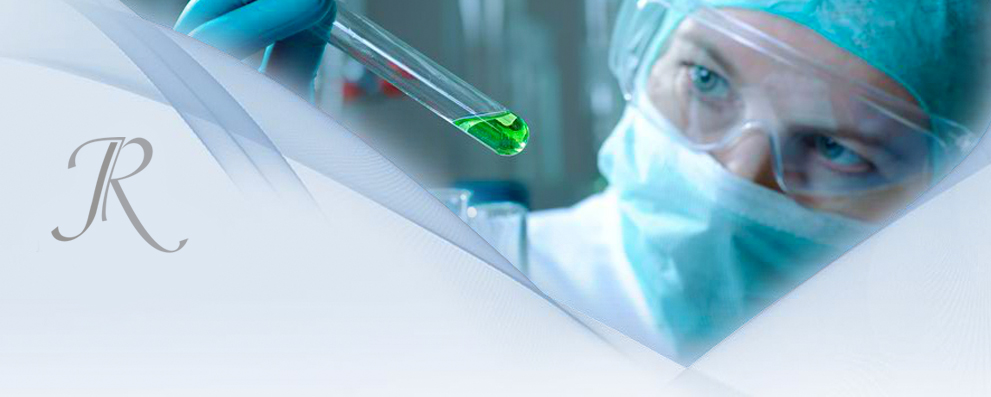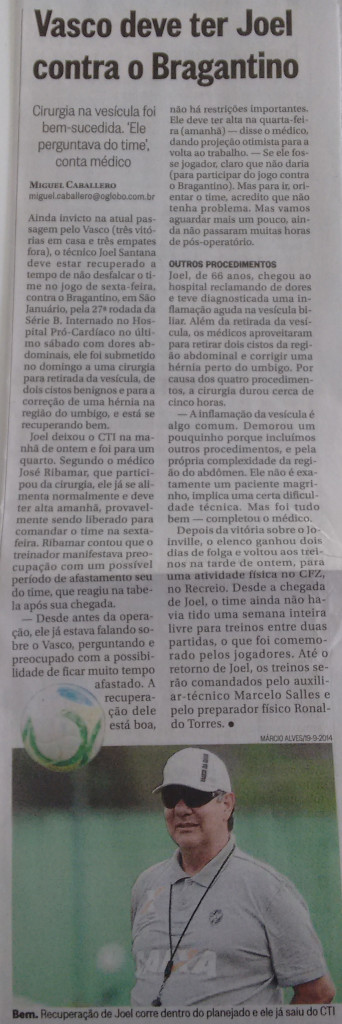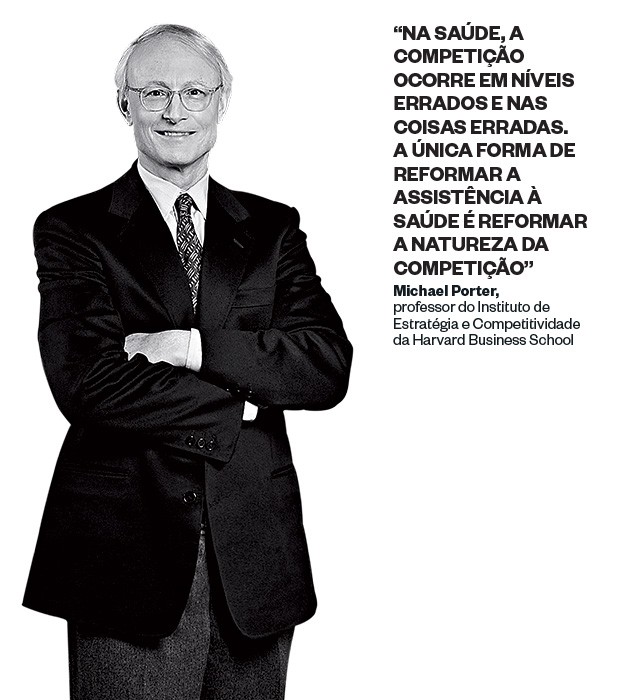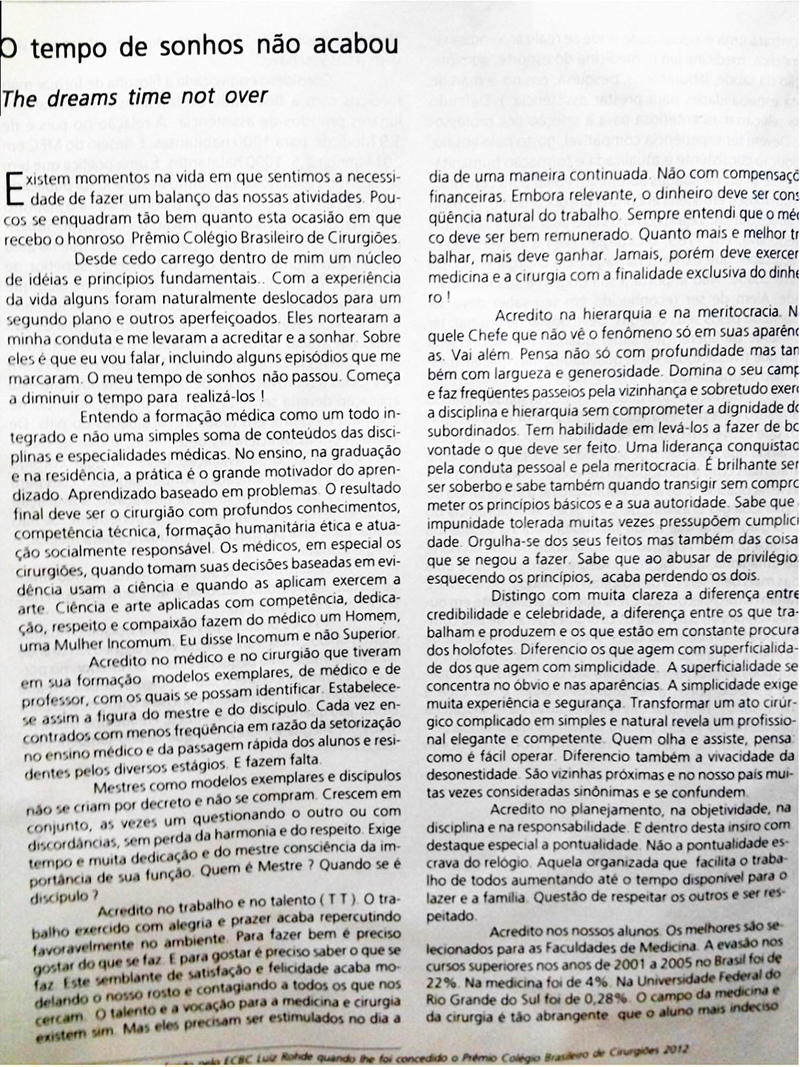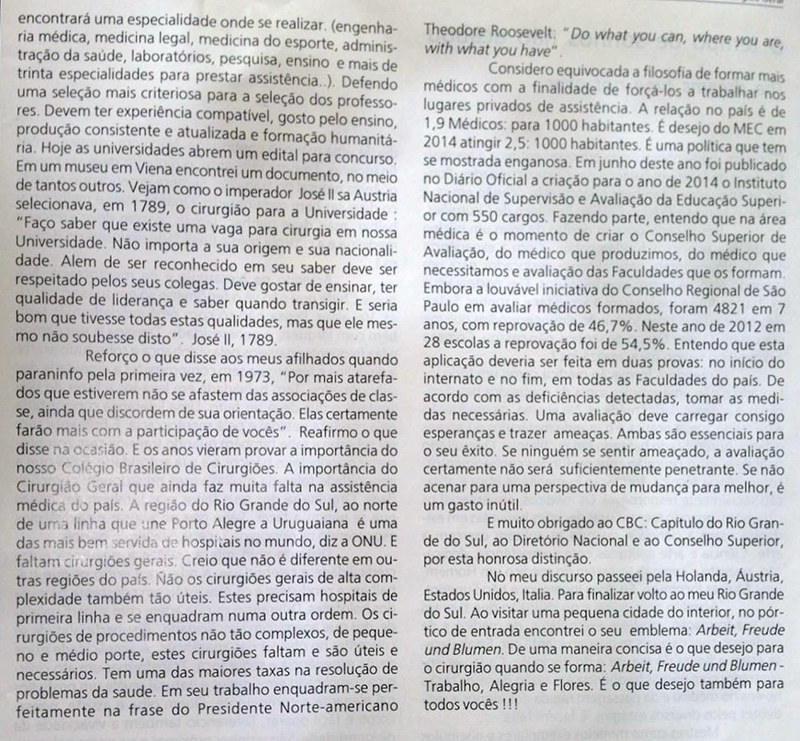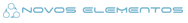Leitura recomendada não cientifica
A lógica de Telles
O empresário Marcel Telles, um dos três nomes por trás do império de marcas hoje formado por AB
inBEV, Burger King e Heinz, fala sobre negócios, a parceria como o mítico Jorge Paulo
Lemann e as liçoes aprendidas, num depoimento que EXAME traz com exclusividade.

Ao longo das últimas quatro décadas, o empresário carioca Marcel Telles, na companhia dos sócios Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sicupira, foi responsável pela construção de um império de marcas globais.
Faz parte dele a AB InBev, maior cervejaria do mundo, cuja história começou em 1989, quando os três compraram a cervejaria brasileira Brahma e Telles foi escolhido para tocar o negócio. Mas a trajetória de sucesso do trio não pararia aí.
Hoje, ele, Lemann e Sicupira são os nomes por trás do 3G, um fundo de investimento que saiu do anonimato ao arrematar, em 2010, o Burger King, segunda maior rede de hambúrgueres do mundo.
E a compra do ícone da cultura americana seria, em fevereiro de 2013, ofuscada por um fato ainda mais surpreendente: o 3G transformou-se também no dono daHeinz, uma das maiores fabricantes de alimentos do mundo, e passou a ter como sócio Warren Buffett, o mais incensado investidor de todos os tempos — uma tacada que alçou os três brasileiros à elite do capitalismo global. Afinal, Buffett não só apostou na compra da Heinz com o trio como deu a ele carta branca para tocar o negócio.
Em outubro, Telles falou num evento da Consultoria Falconi, de Vicente Falconi, a que EXAME teve acesso exclusivo, sobre sua trajetória e a lógica que norteia seu jeito de fazer negócios. A seguir, os principais trechos.
OS PRIMEIROS ANOS
“Sempre digo: para pegar o peixe grande, você tem de estar na água”
“Entrei na faculdade numa época difícil, em 1968. Na época em que aluno desaparecia e professor era preso. Mas comecei a ver uns amigos chegando com umas motos bacanas e uns ternos bem cortados. Perguntei o que estavam fazendo e eles falaram que estavam no mercado financeiro. Não tinha a menor ideia do que fosse aquilo.
Resolvi entrar, e entrei pela porta dos fundos. Arrumei um emprego de conferir boleto de bolsa da meia-noite às 6 da manhã numa corretora. A gente diz, numa metáfora de pesca submarina, que para pegar o peixe grande você tem de estar na água. Vejo tanto jovem que fica preocupado sem saber muito bem para onde está indo.
Sempre digo: comece a fazer alguma coisa e, em algum momento, vai passar por você o cavalo selado. E a paixão dá resiliência. Daí tudo fica mais fácil. Mas, às vezes, você não tem uma vocação claríssima. Você tem, então, de dar uma olhada até encontrar qual é a sua.”
OS SÓCIOS JORGE PAULO LEMANN E BETO SICUPIRA
“Cabeça vazia é o templo do diabo”
“Temos habilidades diferentes, mas somos muito parecidos nas coisas em que acreditamos. Era muito claro que tínhamos o mesmo jeito, os mesmos valores. O maior segredo, talvez, tenha sido sempre ter tido muita coisa grande para fazer. De outro modo, você acaba usando aquela energia dentro da companhia de uma maneira ruim, um contra o outro. Por isso o sonho é tão importante.
Quando o sonho é grande, há espaço para todo mundo. O mais importante é que sempre corremos atrás e sempre demos sorte de encontrar coisas grandes para nos manter ocupados e crescer. Cabeça vazia é o templo do diabo. Às vezes, você tem a tentação de estar fora da sociedade ou achar que dá para fazer coisas sozinho, e dá.
Mas eu nunca teria ido tão longe quanto fui se estivesse sozinho. Por aprender muito um com o outro, na hora que você está um pouco mais devagar, alguém dos outros sai na frente, e você, competidor, já quer fazer também, quer tocar.
O Jorge Paulo Lemann está infernal, é um negócio inacreditável. Parece que tomou uma supervitamina empresarial. Ele está diabólico. E é nessa hora que a gente fala: ‘Caramba, vou me mexer também’. Essa é a mágica da nossa sociedade.”
O APRENDIZADO
“Tentar tocar um negócio por controle remoto não funciona”
“No banco Garantia, éramos operadores, trabalhávamos num ambiente aberto, conhecíamos bem o valor de trabalhar num ambiente onde ouvíamos tudo o que os outros falavam. E trabalhar em um ambiente aberto é uma metáfora para trabalhar em equipe. Dois ou três se juntavam para tomar uma decisão e determinar um caminho.
A atitude de dono também veio de lá. Quando você está operando, é dono mesmo. Você está assumindo posições e riscos, numa atitude de dono. Depois, acrescentamos coisas de outros lugares. O hábito de andar no mercado, de gastar sola de sapato, veio da rede varejista Lojas Americanas, que veio, por sua vez, do varejista americano Walmart.
Outro aprendizado que tivemos, já no fundo de private equity GP, é que não adianta comprar nada que um de nós, do grupo, não vá tocar. Tentar tocar por controle remoto não funciona. A gente sempre questiona: ‘Quem está com o dele na reta?’ Nossa pergunta em qualquer projeto é sempre esta: ‘Quem vai fazer aquilo funcionar e, se não funcionar, vai morrer tentando fazer funcionar?’ ”

FORMAÇÃO DA AMBEV
“Não mexa em nada antes, faça o que você achar que sabe
“Dei sorte na minha vida porque peguei umas caronas com o Jorge Paulo e com o Beto Sicupira. Com o Jorge, aprendi muito sobre o mercado financeiro.
Falando com o Beto, que estava há tantos anos na Lojas Americanas, antes de entrar na cervejaria Brahma, ele me disse: ‘Não mexa em nada antes, porque tudo o que te parecer óbvio será parecido com a opinião que o motorista de táxi ou o barbeiro teriam para resolver aquele problema. E normalmente não será a decisão correta. Faça o que achar que você sabe’.
E o que eu sabia, ou achava que sabia, era a parte sobre gente, metas, incentivos. Isso foi o que fiz nos primeiros dois anos. Provavelmente, metade do que eu achava de antemão estava errada mesmo. E metade do que os consultores me falavam também estava errada.
Eles nos diziam que, para economizar custos, deveríamos fundir as redes de distribuição da Brahma e da Skol. Fazia todo o sentido matemático, mas eles não perceberam que a rede de distribuição da Brahma, na época, era predominantemente de gato gordo.
E a da Skol era formada pelo marido no caminhão, a mulher na contabilidade e o filho carregando caixa. Eram pobres com muita vontade de ficar ricos. Graças a Deus, nesse ponto, não ouvimos os consultores.”
CULTURA DE EFICIÊNCIA
“O Falconi é um missionário da boa gestão. Para nós, ele foi fundamental”
“Na década de 90, era preciso pedir aumento de preço no Ministério da Indústria e Comércio. E assim conheci a ministra Dorothea Werneck. Ela me disse: ‘Marcel, você trabalha com qualidade total?’ Eu respondi que sim. Ela foi simpática e sugeriu que eu fosse conversar com o consultor Vicente Falconi.
Bati lá em Minas Gerais atrás dele, e assim começou nossa parceria. Precisávamos muito dos processos. Um presidente da República ou um presidente de empresa sentam no comando e dizem: ‘Acelera, vira para a direita’. Mas nada daquilo está conectado com nada. Para isso acontecer, deve existir um bom desdobramento de metas.
Muito disso veio com o Falconi. Juntamos essa lógica com nosso estilo de gerenciar. O Falconi é um missionário da eficiência e da boa gestão neste país. Para nós, ele foi fundamental. Uma coisa é brincar com 250 pessoas, como no banco Garantia.
Outra é brincar na Brahma e na Ambev, onde realmente, se não existirem processos, se não houver um desdobramento de metas primoroso, nada acontece. Vejo cada vez mais esse amálgama entre o método e a nossa cultura.”
MERITOCRACIA”Não é o dinheiro que faz gente boa”
“Não é o dinheiro que faz gente boa. Gente boa quer construir, meter bronca. O dinheiro é o que você deve a essas pessoas pelos resultados que elas trazem. Muita gente acha que balançar dinheiro na frente de uma pessoa vai fazê-la mudar, correr atrás ou se transformar. Não vai. Aquela pessoa já traz em si esse tipo de atitude.”
FÁBRICA DE GENTE
“No final, a aposta é a de sempre: ponha jovens para dentro”
“Tivemos sorte na Brahma de viver um Brasil mais lento, mais confortável. Tivemos oito ou dez anos para formar as pessoas. Criamos uma legião de fanáticos por fazer as coisas daquele modo. É o que se chama de cultura. Ficou muito fácil quando nos juntamos com a cervejaria Antarctica, porque tínhamos muita gente para levar essa mensagem para lá.
A mesma coisa aconteceu quando nos associamos à Interbrew para criar a InBev, na Bélgica. O aprendizado é assim: você precisa ter um pipeline de gente. Tivemos sorte de ter dez anos para desenvolver esse pipeline sem grandes solavancos. Quando você entra numa nova companhia, vai sempre com as melhores intenções de aproveitar a maior quantidade de gente possível.
Mas falando com franqueza: esqueça o primeiro escalão. No segundo, você começa a achar pessoas. No final, a aposta é a de sempre: ponha jovens lá dentro, porque eles vêm com idealismo. Uma coisa que a gente sempre fez é povoar qualquer companhia ou novo negócio com jovens.
A gente ouve: ‘Que risco! O cara tem 30 anos e você vai entregar o México para ele?’ Claro! A gente sempre fez isso e não me lembro de nenhum caso que tenha dado errado. É claro que você tem de dar uma ajuda. Mas gente boa explode quando você dá uma oportunidade. Sempre vai ter gente que goste de nossa cultura, dessa nossa maneira de fazer as coisas.
São poucos, mas a gente não precisa da humanidade. Uma maioria diz: ‘Para que trabalhar tanto, correr tanto atrás dessa meta? Já não está bom?’ Mas a gente sempre consegue achar jovens que têm essa ambição, esse brilho nos olhos, essa faca nos dentes, essa vontade de construir.”
A CONQUISTA DA AMÉRICA
“Você tem sempre de correr atrás para renovar o sonho, a ambição”
“No comecinho da Brahma, sempre teve aquela coisa de que um dia a gente poderia comprar a cervejaria americana Anheuser-Busch. Só que era ridículo, falando com toda a franqueza. Toda vez que eu dizia: ‘Pô, um dia a gente pode comprar a Anheuser-Busch’, eu ria depois.
Tinha de ter um riso no final para o pessoal não achar que eu havia ficado maluco. Um sonho assim inspira. O senso de realização e o orgulho de pertencer a um time espetacular são inerentes ao ser humano. Não sei se todo mundo é assim, mas eu tenho visto isso em todo lugar. É preciso sempre correr atrás para renovar o sonho, a ambição e para manter a equipe motivada.”
LIDERAR PELO EXEMPLO
“Atitude é que faz a diferença”
“Esse negócio de cultura é um pouquinho como religião. Você tem os princípios, os bispos, os sacerdotes. Eles disseminam aquela cultura pelo exemplo. Escrever não funciona muito bem. Uma vez, eu estava num escritório que eu compartilhava com o Beto e, por algum motivo, resolvi colocar no papel nossos dez princípios.
Isso foi dez anos depois de começar a Brahma. Por coincidência, ele também havia começado a fazer o mesmo e escreveu coisas muito parecidas. Isso porque estávamos só escrevendo o que as pessoas já viviam. E acho que isso é o que funciona. Atitude, principalmente, é que faz a diferença.”
NEGÓCIOS FUTUROS
“Nem Heinz nem Burger King surgiram da gente — os três sábios”
“Na cabeça tenho o sonho de mais dois ou três negócios. Mas não dá para falar. Sempre digo que as coisas que montamos são como uma bicicleta: tem de continuar rodando. Você coloca muita gente talentosa para dentro, diz que pode empreender, sonhar.
Eu me lembro bem que a decisão de nos associar com a Interbrew para criar a InBev surgiu de um papo meu com o Beto, o Jorge e o guru de administração Jim Collins.
O Jim perguntou: ‘E aí, o que faz você não dormir à noite?’ E eu não dormia porque a gente tinha montado essa máquina de gente e, em algum momento, perderia pessoas extraordinárias se não tivesse velocidade de crescimento. Vai ter sempre coisa grande e nova. Algumas vão vir da gente, e muitas vão começar, cada vez mais, a surgir das outras pessoas.
Nem Heinz nem Burger King surgiram da gente. É claro que apoiamos e participamos. Tínhamos o sonho de novos mercados, novas possibilidades, mas não foram os três velhos sábios que apareceram com a ideia.
E é isto que é espetacular: o tanto de gente de todos os níveis que começa a aparecer de todos os lados com ideias. Quando as pessoas começam a propor negócios e a dizer que tomam conta, é porque o negócio vai.”
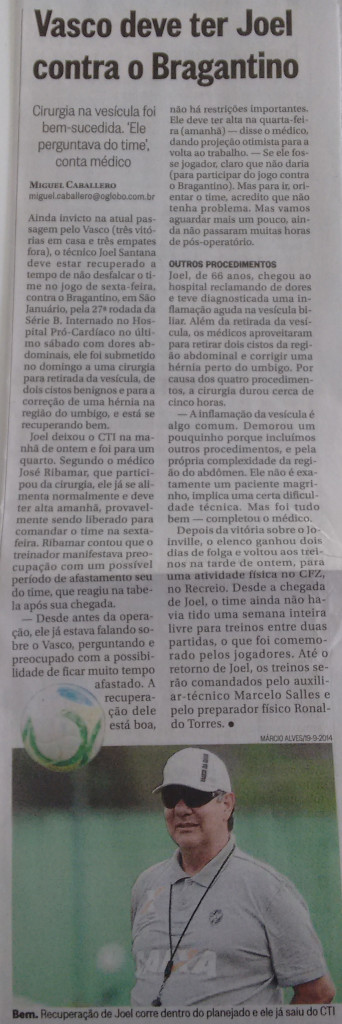
A música molda o cérebro
Crianças que aprendem a tocar um instrumento ampliam funções cognitivas

Uma das características típicas dos seres humanos — dentre aquelas que nos diferenciam dos demais animais — é a nossa capacidade praticamente única na natureza de criar, tocar e apreciar música. Dos esquimós, no Ártico, passando por habitantes dos desertos africanos, até tribos indígenas no meio da floresta Amazônica, homens são capazes de compor, tocar, cantar e dançar (bem, quase todos, pelo menos). Mas, como costuma dizer o neurocientista Oliver Sacks (autor de “Alucinações musicais”), a música não é apenas uma forma pela qual nos conectamos e criamos laços. Ela, literalmente, molda os nossos cérebros. Um novo estudo divulgado ontem não só reforça a máxima de Sacks como constata que a música é também capaz de aprimorar as nossas funções cognitivas.
De acordo com o novo trabalho, crianças que recebem aulas de música regularmente ampliam suas capacidades cerebrais pelo resto de sua vida adulta. A pesquisa publicada na “PLOS One” mostrou que crianças que recebem aulas particulares de música por pelo menos dois anos revelam maior atividade cerebral nas áreas associadas às suas funções executivas — ou seja, os processos cognitivos que permitem aos seres humanos processar e reter informações, resolver problemas e regular comportamentos.
— Como o funcionamento executivo do cérebro é um forte indicador das conquistas acadêmicas que as pessoas podem vir a ter (mais ainda que o tradicional QI), acreditamos que nossas descobertas têm implicações educacionais importantes — afirmou a principal autora do estudo, Nadine Gaab, do Laboratório de Neurociência Cognitiva do Hospital Infantil de Boston (EUA). — Enquanto muitas escolas estão cortando os programas de música e gastando mais tempo e dinheiro em testes preparatórios, nossas descobertas sugerem que o aprendizado musical pode, de fato, ajudar as crianças a alcançarem metas acadêmicas mais ambiciosas.
Atividade cerebral cresce
O novo estudo comparou 15 crianças de 9 a 12 anos que tinham aula de música a um grupo de 12, da mesma idade, sem nenhum treinamento. Além disso, foram estudados dois grupos de adultos, divididos entre músicos e não músicos. Os pesquisadores observaram diversos fatores demográficos, como educação, status profissional e QI e descobriram que as funções cognitivas (medidas por uma bateria de testes) e a atividade cerebral (registrada por meio de imagens de ressonância magnética funcional) eram melhores tanto em adultos quanto em crianças que tocavam algum instrumento.
— O estudo dos efeitos da música no cérebro já tem mais de dez anos, mas poucos grupos se dedicam a ele — constata o neurocientista Jorge Moll, do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, no Rio de Janeiro. — É difícil saber por que os padrões sonoros são tão engajantes, já que não dependemos da música para sobreviver. Mas há várias evidências de que a música modula fortemente o aprendizado, estimulando a capacidade cognitiva e a relação interpessoal. A percepção de um ritmo influencia o sistema de atenção, induz ao movimento e otimiza o metabolismo e a performance física.
A explicação, segundo Oliver Sacks, um dos maiores especialistas mundiais no tema, está no fato de a música ser uma linguagem tão poderosa quanto a da comunicação verbal: “A atividade musical envolve várias funções do cérebro (emocional, motora e cognitiva), muito mais do que as que usamos para o outro grande feito humano, a linguagem. Por isso, a música é uma forma tão eficaz de nos lembrarmos e de aprender. Não é por acaso que ensinamos às crianças pequenas com rimas e músicas.”
A mesma percepção tem a professora e doutora em Educação Andrea Ramal, autora de diversos livros sobre aprendizado.
— Aulas de música ajudam no aprendizado da criança ao longo da vida por diversas razões. Tanto assim que a música se tornou disciplina obrigatória nas escolas — constatou Andrea. — Além disso, a participação num conjunto musical desenvolve a disciplina na criança, a capacidade de trabalhar em grupo e outras competências que serão necessárias até no mercado de trabalho. Também trabalha habilidades motoras e aumenta a concentração, que é essencial para o aprendizado.
Mais música, menos erros
O novo trabalho vem se somar a um grupo cada vez maior de estudos que revelam a importante relação entre música e cérebro. Uma pesquisa divulgada em novembro do ano passado, por exemplo, revelara que os adultos que tocaram instrumentos quando eram crianças (mas não tocavam há décadas) tinha respostas cerebrais mais ágeis. Outro estudo, de setembro de 2013, mostrou que indivíduos que sabiam tocar um instrumento também eram capazes de detectar erros de forma mais rápida e acurada do que os não músicos.
Um dos mais importantes trabalhos sobre o tema foi publicado também na “PLoS ONE”, em fevereiro de 2008. Nele, cientistas da Johns Hopkins revelaram que, quando músicos de jazz tocam de improviso (uma característica frequente desse tipo de música), seus cérebros “desligam” áreas ligadas à autocensura e à inibição e ativam aquelas que deixam fluir a autoexpressão. Ou seja, ao desligarem a inibição, eles davam espaço à criatividade e acabavam conseguindo tocar uma música inédita.
Por todas essas características, especialistas acreditam que a música possa servir também como mecanismo terapêutico. Como cita o próprio Oliver Sacks, “a música penetra tão profundamente em nosso sistema nervoso que, mesmo em pessoas que sofrem de devastadoras doenças neurológicas, ela é, comumente, a última coisa que perdem.”
— Nossos resultados têm implicações também para crianças e adultos que lutam com problemas nessas funções do cérebro, como hiperatividade ou demência — afirmou Nadine. — Novos estudos determinarão se a música pode ser usada como ferramenta de intervenção terapêutica.
Entrevista Marcio Maranhão
” Não desisti do sitema público de saúde, ele é que desistiu de mim”

A realidade é paralisante”, diz o cirurgião torácico Marcio Maranhão sobre a precária situação do setor público de saúde no Rio de Janeiro. Mas ficar parado foi o contrário do que fez o médico, que lança no dia 17 de setembro o livro “Sob pressão – a rotina de guerra de um médico brasileiro” (Ed. Foz).
Na juventude, dedicar-se ao sistema público de saúde era um desejo do médico Marcio Maranhão. Formado pela Uerj em 1994, ele dizia querer retribuir ao Estado a educação que recebera. E era onde poderia exercer a “medicina plena”, social, bem diferente daquela do consultório privado. De início, sentia-se poderoso, eficiente, idealista. Mas esse romantismo foi se perdendo à medida que foram se acumulando experiências traumáticas em hospitais públicos cariocas como Souza Aguiar (municipal), Saracuruna e Adão Pereira Nunes (estaduais).
A falta de infraestrutura básica e a violência diária, entre outros fatores, foram minando as intenções do profissional, que chegou ao seu limite em 2009, quando decidiu abandonar “o cenário de ruínas”. Hoje, seu único braço no serviço público é como chefe do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital da Força Aérea do Galeão, onde diz ter condições de trabalho.
Seu livro está sendo considerado a “Tropa de elite da saúde”. Concorda com o rótulo?
O termo é pesado, mas o conteúdo de indignação talvez se compare ao do “Tropa de Elite”. Eu enxergava o concurso público como uma dedicação necessária ao Estado que me formou, além de ser onde o médico exerce uma medicina plena, não aquela medicina de consultório de Zona Sul, de Barra da Tijuca. Não fui trabalhar no sistema público por conta do salário, era porque eu acreditava no trabalho.
Pelo que conta, foi apesar dele…
Foi apesar dele. Em 2000, eu tinha um salário de R$ 1.249 por 20 horas semanais e, em nove anos, ele aumentou R$ 99. Consegui interferir positivamente em vários pacientes, mas era uma luta muito grande fazer uma medicina de mínima qualidade. Eu não desisti do sistema, foi o sistema que desistiu de mim, me expulsou, na verdade.
O livro mostra a revolução de emoções que o médico vive: desde o romantismo do início até o que chamou de “amarelamento”, comparando à cor do seu jaleco. Por isso diz que se sentiu expulso?
Fiz medicina imbuído romantismo da profissão. Entendia a medicina como um gesto de solidariedade. Tratar alguém é viciante, dá uma sensação de poder. Mas este sentimento vai se modificando, o sistema te empurra uma nova roupagem.
Há histórias que são muito duras e chocantes. Era essa sua intenção?
A intenção era ter uma visão de um soldado que foi ao front de batalha e voltou para contar. Trago histórias minhas, mas não são únicas. Tenho vários colegas com depoimentos tão escabrosos quanto. Na verdade, não era para chocar, era para mostrar a realidade.
A realidade da saúde é chocante?
A realidade é chocante. Muitas vezes, ela é paralisante. Tenho colegas médicos que podem estar respaldados pelo código de ética médico, dizer que não vão fazer o procedimento porque não têm condições mínimas. Eles têm razão, mas certamente aquele paciente vai ser prejudicado. Então eu procurei ser o mais comprometido possível com o doente. E cheguei no meu limite.
A experiência de operar uma jovem na enfermaria é um exemplo? Como foi?
Exato. A menina era muito jovem e foi esfaqueada pelo namorado durante uma briga. Estava entrando num processo de infecção generalizada. Caí de paraquedas e vi uma situação da qual não poderia me eximir. Ia levá-la para o centro cirúrgico, mas não tinha vaga, sequer uma previsão. Decidi drenar o tórax (retirar o sangue e outros fluidos) na enfermaria. No início havia plateia, que foi sumindo à medida que as cenas foram ficando mais fortes. No dia seguinte, a menina estava felizmente sem febre, caminhando.
Mas o senhor poderia ser responsabilizado por imprudência?
Sim, assumi totalmente o risco. Foi uma armadilha que o sistema me pregou. O que eu ia fazer? Ir embora e escrever no prontuário que não havia condições de operá-la? Corria o risco de ser imprudente, mas tinha muito mais medo de me tacharem de negligente. Nós acabamos nos expondo, e isto também é desgastante.
Sua experiência no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi muito diferente daquela dentro do hospital? Alguma história marcante?
Sou cirurgião torácico com experiência em terapia intensiva. No Samu, via uma realidade que não imaginava existir tão perto de nós, que é estar numa favela violenta sendo o único braço do poder público a ter entrada. Trago histórias significativas, e uma delas foi a peregrinação para conseguir um leito de terapia intensiva. Foram 36 horas de plantão, porque eu não tinha como largar o paciente no meio. Cheguei a brigar com colegas quando chegava no hospital pedindo vaga. Eu sei que representava um problema para eles, e a capacidade deles de resolvê-los estava esgotada. Só consegui interná-lo por um favor pessoal. No final do dia, estávamos eu, minha equipe e as filhas do paciente comemorando com cachorro quente.
A violência ronda o trabalho do médico o tempo todo. O que sentiu, por exemplo, quando teve que resgatar um traficante morto para evitar um conflito numa favela?
No hospital, nós recebemos o resultado da violência. Aquele caso foi extremo. Eu senti muito medo. Havia traficantes armados na favela, e um deles já estava morto. Agi no instinto porque estava sendo pressionado para dar atendimento. Botamos o corpo na ambulância e encenamos a assistência que faríamos se ele estivesse vivo. Acho que o teatro foi o que nos garantiu a saída com a ambulância da comunidade.
Hoje fala-se mais das emergências e menos da situação dos idosos internados que são totalmente esquecidos. Na sua opinião, é um lado tão duro quanto o do serviço de urgência?
Isso é muito duro, mas comum. Em macas duras, os idosos internados vão literalmente apodrecendo, abrindo feridas por ficarem imóveis tanto tempo. Eles nunca têm prioridade porque não são baleados. Eles têm diabetes, hipertensão, câncer. Morrem sem serem percebidos. Não deveriam estar ali, mas não têm onde serem acolhidos.
Embora haja muitos comprometidos, há também os médicos que vão se tornando alheios ao sofrimento até chegarem à negligência. Isso tem diminuído a confiança na classe?
Fala-se de inovação, mas talvez a verdadeira inovação seja voltar aos conceitos do passado da medicina familiar. O negócio da saúde se tornou um convite para pedir exames, fragmentar a assistência. Não tenho intenção de justificar a classe médica pelo sistema precário, minha intenção é defender a saúde. Caminhamos para uma ruptura da confiança da sociedade no médico, porque ele é a face da inoperância do Estado. Isso é preocupante. Eu cito histórias revoltantes de negligência médica, mas tenho colegas que tentam ainda fazer uma medicina de qualidade. É preciso separar e valorizar isso.
Um trecho do livro diz que “está tudo errado”. A começar pelo quê?
Nunca me propus a dar uma solução simples, mas dentre os maiores problemas está o subfinanciamento, isso é uma unanimidade. Além da má gestão e da corrupção endêmica, que permeia todos os setores, desde a compra de insumos à contratação.
A impressão do livro é que a situação da saúde só fez piorar. Foi isso?
Piorou muito. Há poucas ilhas de excelência que resistem. Eu, por exemplo, acompanhei o fim do Instituto de Tisiologia e Pneumologia, o primo pobre da UFRJ, que atendia casos complexos de tuberculose, e hoje estes pacientes estão órfãos de atendimento. O instituto salvava muitas vidas, mas fechou porque a tuberculose é uma doença da pobreza.
O que diz o homem mais rico do Brasil

Em aula magna na FGV, Jorge Paulo Lemann lista os cinco pontos mais importantes para construir a carreira: risco, foco, sonho, gente e eficiência.
“Não gosto de dar palestra. Para velho não dou palestra, porque não adianta muito.” A frase dá uma boa pista sobre a aversão a aparições pela qual é conhecido Jorge Paulo Lemann, o brasileiro mais rico do mundo, dono de uma fortuna de R$ 52 bilhões, segundo a Forbes. Mas em maio o empresário abriu uma exceção e participou de uma aula magna para alunos da Escola de Administração Pública e de Empresas (Ebape) da Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio. Foi até lá, disse, para tentar inspirar os jovens a “fazer acontecer”.
Lemann contou sua trajetória, desde o início, no esporte, passando pela criação do Banco Garantia, pela aquisição das Lojas Americanas e a compra da Brahma, que viria a se tornar o conglomerado AB InBev, atual maior grupo cervejeiro do mundo, e a criação da 3G Capital, que controla o Burger King — e na última semana adquiriu a rede de cafés canadense Tim Hortons. Tudo para exemplificar os cinco pontos que considera mais importantes na construção de um negócio ou carreira: risco, foco, sonho, gente e eficiência. Veja os destaques da aula:
RISCO É PARA SER TOMADO
“Não sou professor, não sou intelectual, não tenho muitas teorias complicadas. Deveria falar sobre coisas que eu aprendi, que são muito importantes na vida econômica, mas que não são muito discutidas nas escolas. A primeira é risco. Eu considero o risco uma parte importante da vida, não só na vida comercial, mas em geral. Tudo tem risco e as pessoas têm que tomá-lo. E tenho notado que, quanto mais a pessoa estuda, menos risco ela quer tomar. Quer transformar risco em formuletas matemáticas e acaba não tomando a decisão. A única maneira de aprender é ir treinando aos poucos. Quem não se arrisca não faz nada, e quem faz tudo igual aos outros ficará igual aos outros, o que, em geral, é medíocre. Acho que todo mundo tem que tentar ser excepcional e fazer algo especial e diferente.”
COM O NOME RUIM NA PRAÇA
“No meu caso, primeiro comecei trabalhando numa financeira com várias outras pessoas bem formadas. Nós nos achávamos o máximo, e a financeira foi à falência… Em 66, com 26 anos, tinha perdido tudo, meu nome estava ruim na praça, mas ainda tinha ofertas pra trabalhar em empresas grandes e optei por ficar no mercado financeiro. Não quis trabalhar num banco grande. Optei por correr risco e fiquei no mercado financeiro porque ainda achava que dava para arriscar, e que minha carreira seria mais rápida se eu ficasse numa empresa menor do que se eu fosse trabalhar num negócio muito grande.”
COM PENA DA GERAÇÃO ATUAL
“O segundo ponto está no foco. Hoje em dia tem muita informação circulando por aí. Neste mundo de internet, é informação pra tudo quanto é lado. Na minha época, era mais fácil, não tinha tanta informação. As opções eram muito menores das que existem atualmente, então eu fico com pena de vocês, porque tem tanta oportunidade, tanta coisa… Está tudo mudando tão rapidamente, que eu acho o foco algo essencial. Esse negócio de ficar fazendo um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, não dá certo. Tem que escolher em que você vai focar e ir em frente.”
OS FANÁTICOS POR FOCO
“Todas as pessoas que eu conheci de grande sucesso sempre foram fanáticos por foco. O Sam Walton, que construiu o Walmart, só pensava em loja dia e noite. O próprio Warren Buffett, que hoje é meu sócio, é um sujeito super focado naquela formuleta. Ele faz negócios diferentes, mas sempre dentro da mesma fórmula e é aí que dá certo.”
O MELHOR TENISTA DO MUNDO
“A terceira coisa importante é ter um sonho grande, tem que ter meta puxada. Isso é extremamente importante, e vocês vão querer atrair outras pessoas pra trabalharem com vocês. As pessoas gostam de vir quando há um sonho maior. Eu sempre tive sonho, queria ser o melhor tenista do mundo, depois a melhor corretora, depois o melhor banco de investimentos, depois a melhor cervejaria do Brasil, depois a maior do mundo e por aí afora. Em alguns você chega lá, outros não, mas, nessa caminhada, você sempre vai se tornar uma pessoa melhor.”
“A quarta coisa que eu descobri lá em 1971, quando fiz o Banco Garantia, é a importância de gente, gente boa trabalhando com você. Tinha pouco capital, não tinha nome, então tinha que descobrir alguma maneira de ser competitivo no mercado financeiro. Decidi que atrairia as melhores pessoas possíveis para se juntarem a mim. Conseguimos atrair pessoas excepcionais e gastávamos um tempo enorme em procurar gente boa. Quando o Garantia era pequeno, com 30/40 pessoas, entrevistávamos mil pessoas ao ano, procurando as que realmente seriam excepcionais.”
EFICIÊNCIA EM QUALQUER LUGAR
“O quinto ponto é eficiência. Nosso espírito é que tudo pode melhorar ou ser feito melhor, em qualquer lugar para onde você olhe tem coisa para melhorar. E eficiência poupa tempo e dinheiro.”
AMBEV x PETROBRAS
“Na realidade, empresas como Petrobras e Vale são muito maiores do que a Brahma, mas a Brahma vale mais do que elas no mercado (dados de maio, já que na última quinta, a estatal valia mais que a Ambev) basicamente por causa dessa formuleta que eu contei: ter gente boa, um sonho grande, ser eficiente e ter disposição pra tomar risco.”
APOSENTADORIA? NEM PENSAR
“Não conheço nada melhor que estar tentando chegar lá e fazer alguma coisa bem. Me perguntam: ‘vai fazer 75 anos e vai parar?’ (o aniversário foi este mês). A última coisa que quero é parar, estou a fim de ficar tentando fazer.”

Onde está o mal?
Um dos dramas de hoje é que não há mais fatos – só expectativas. A história vai devagar e por linhas tortas. A última grande mudança foi a queda das torres em NY. Em dez minutos, nossa vida mudou. A obra de arte de Osama foi ter criado um fato. E o Ocidente acorreu para esmagar o herege, o psicopata que criou um acontecimento em um país que imaginava ter controle do seu destino. Ele ousou “acontecer”. Se ele abriu o precedente, tudo ficou possível.
Só um maluco, um marginal poderia furar o cordão sanitário da vida controlada. Mas, Osama não era maluco. Ele criou a imagem das torres caindo por toda a eternidade, gravada no tempo, como a Queda da Bastilha, o holocausto e a destruição de Hiroshima. Osama nos trouxe de volta à realidade, furou a barreira virtual do nosso Truman Show.
Havia no ar um desejo de destruição da “paz americana”, mesmo entre os americanos. Em cada detalhe da vida, havia indícios: em filmes-catástrofe gozando o arrasamento de NY, nos livros em que o futuro é sempre distópico e até na arquitetura, como sacou o italiano Paolo Portoghesi, quando disse que a forma do museu de Frank Gehry em Bilbao é o desejo de um desabamento. Os americanos têm uma relação de amor/ódio com o implacável progresso que os acorrenta a uma escravidão produtiva.
Eu mesmo, profetinha autoproclamado, já escrevi que aquelas agulhas góticas pareciam pedir destruição. Que pode acontecer a uma lança herética arranhando os céus de Deus? A queda. Só a queda. Havia uma fome de fatos no ar; Osama veio satisfazê-la. Achavam que a técnica era invencível em sua marcha fria para um futuro sem ‘sujeitos’, previsível e programado. Osama nos fascinou porque assumiu o papel de ‘sujeito da história’, como os marxistas se chamavam antigamente. Sozinho, destruiu a técnica com as armas da técnica, numa homeopatia apocalíptica.
Desde que nos entendemos, nunca vimos uma mutação tão inesperada. Não apenas nas mentalidades, mas na matéria da vida, nas engrenagens que movem o mundo. Talvez a Crise de 2008 tenha começado com a desmoralização das torres caídas. O 11 de setembro foi o início da Crise atual. Até o 11 de setembro, tínhamos liberdade para desejar o quê? Bagatelas, mixarias. Uma liberdade vagabunda para nada, para o exercício de um narcisismo ilusório, o fetiche de uma liberdade transformada em produto de mercado. E se o impossível acontece, a liberdade se restaura – nos ensina esse ato gratuito do terror.
Buraco negro. Este fato que mudou o Ocidente está ali em NY, deflorado, negro buraco e, por mais que tentemos, não conseguiremos desfazer a ligação entre os fios invisíveis que unem a loucura do fanatismo do Oriente até nossa vida pessoal.
Precisamos de uma forma nova de “transcendência”, abolida pelo consenso tecnocientífico; uma nova liberdade se tornou urgente, a liberdade de ‘não’ ser moderno.
Este artigo me ocorreu porque o escrevi na Quinta-feira Santa e me vi subitamente sonhando com um novo “Cristo” que nos trouxesse esperança de salvação, não de ir para o céu, mas que trouxesse de volta o mistério de algo que explicasse o mundo. Também andei lendo ensaios de Paul Valéry que, nos anos 30, já previa com espantosa clareza o mundo de hoje.
Cito aqui trechos desse genial pensador visionário.
“A desordem do mundo atual nos habitua intimamente a ela; nós a vivemos, nós a respiramos, nós a criamos e ela acaba por ser uma verdadeira necessidade nossa. Nós encontramos a desordem à nossa volta e dentro de nós mesmos, nos jornais, nos dias e noites, em nossas atitudes, nos prazeres, até em nosso saber. A desordem nos anima e o que nós criamos nos leva a lugares onde não queremos ir.” (A Política do Espírito.)
Ou então: “A vida social exige a presença de coisas ausentes; a ordem resulta do equilíbrio dos instintos pelos ideais”. (…) “Uma sociedade que elimine tudo que é vago ou irracional, para impor o mensurável e o verificável, poderá sobreviver?” (Prefácio das Cartas Persas.)
Precisamos de um ideário que acrescente alguma inutilidade ao mundo. Precisamos de fatos, e não de expectativas, precisamos de um conjunto orgânico de verdades (ou de crenças) que espiritualize nosso vazio.
Mas, afinal de contas, com quem estou falando quando digo estas coisas aqui, sempre na forma de recomendações ‘sensatas’? Com quem falamos? Com a ONU, com os presidentes, com os filósofos, com o bispo, com o umbigo? Com quem? É impressionante como os discursos de hoje, as conclamações, os manifestos, os ensaios usam o tom de “precisamos”. “Precisamos impedir as mudanças climáticas, precisamos distribuir melhor a renda mundial, precisamos…” Mas ninguém nos responde.
Ou seja, não há o que fazer a não ser confiar em soluções que surjam pelo cansaço do erro, ou, pior ainda, pelos dias seguintes a uma grande catástrofe que nos leve, pelo pavor, a uma nova era de mínima racionalidade, até que, de novo, o caos se anuncie.
Até o mal ficou difuso. Onde está o mal, hoje? Entre os terroristas, no meio da miséria, entre fezes? O mal ficou arcaico. Por isso, o mal dos terroristas consiste em injetar o arcaico no moderno, esse inferno ‘clean’ que o capital inventou. E não adianta tentar a “beleza do mal” como busca invertida do bem. Já foram tentados: o culto à perversão, a violência ideológica, a crueldade por ‘bons’ motivos, tudo. Nada deu em nada. Existe hoje no mundo um novo mal, um mal sem culpados visíveis. O mal no mundo atual é o “incompreensível”. Como disse Baudrillard: “Contra o mal, só temos o fraco recurso dos direitos humanos”.
E, para fechar este artigo “cabeça”, deprimido e citador, aqui vai o poema de Yeats, escrito em 1919, A Segunda Vinda:
“Tudo se desmancha no ar.
O centro não segura
a imensa anarquia solta
sobre o mundo.
Terrível maré de sangue
invade tudo e
as cerimonias da inocência
são afogadas.
Os homens melhores
não tem convicção;
e os piores estão tomados
pela intensa paixão do mal”.
Arnaldo Jabor
O lado oculto das contas de hospital
A medicina privada prolonga a vida como nunca. Isso pode significar a morte financeira das famílias abandonadas pelos planos de saúde. É possível curar esse mercado doente?
Quanto vale o ar que chega aos pulmões a cada inspiração? Ninguém pensa nisso enquanto respira, naturalmente, 25 mil vezes ao dia. É uma pergunta irrelevante na saúde – e crucial na doença. Por 24 horas de oxigênio, os melhores hospitais privados de São Paulo chegam a cobrar R$ 3 mil. Essa é só uma das preocupações da oftalmologista S.L., de 31 anos. Ela pertence a uma família de médicos que, há dois anos, vive um drama, em silêncio, num dos mais respeitados centros de saúde do país – o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

S.L. não roubou. Não matou. Não feriu os bons costumes. Ainda assim, esconde o rosto. Para quem se orgulhava de manter as finanças em dia, a cobrança é constrangedora. S.L. deve cerca de R$ 5 milhões. Foi processada pelo Einstein por não pagar uma conta impagável. Sua contravenção foi acompanhar o pai e assinar o documento de internação quando ele decidiu se submeter a uma cirurgia que tinha tudo para dar certo. No início de 2012, a família vivia uma vida confortável em Assis, interior de São Paulo. Seu pai, o médico H.L., era dono de uma clínica de oftalmologia. Aos 60 anos, ele decidira se submeter a uma troca de válvula cardíaca quando um exame revelou que ela não funcionava bem. O procedimento foi planejado com calma. H.L. escolheu o mesmo cirurgião que o operara, com sucesso, alguns anos antes no Albert Einstein. O plano de saúde – a Unimed de Assis – não oferecia cobertura naquele hospital. Segundo o orçamento emitido, a operação custaria R$ 120 mil. A Unimed aceitou fazer um reembolso de R$ 60 mil. O paciente pagaria o restante em dez parcelas.
O orçamento compreendia oito diárias de hospital. Segundo a previsão médica, após esse período, H.L receberia alta. Ele entrou no centro cirúrgico e nunca mais saiu do Einstein. Foi vítima de uma complicação pouco frequente. A artéria aorta se rompeu. Com pouco oxigênio, seu cérebro sofreu uma lesão permanente. H.L. não fala e não se mexe. Olha e pisca. “Tenho a sensação de que, às vezes, o cérebro dele conecta e, logo depois, desconecta”, diz a filha. “Em alguns momentos ele parece entender o que digo. Em outros, não.” Sem poder contar com os rendimentos dele, a família fechou a clínica de Assis, demitiu os funcionários, vendeu carros e equipamentos médicos. A conta cresce a cada dia. Cobranças chegam quase todo mês. Boletos de R$ 180 mil, R$ 250 mil, R$ 300 mil brotam sob a porta do apartamento, como se fossem contas de água e luz. Quando a cobrança chega, S.L. abre o envelope, espia o valor e joga a carta na gaveta de boletos do hospital. Foi preciso esvaziar uma gaveta inteira do guarda-roupa para acomodar as cobranças. A aparente indiferença esconde uma dor moral. Para os honestos, a inadimplência pode ser devastadora. S.L. recorreu aos antidepressivos para tentar suportar a ausência do pai e a falência da família. Com o nome registrado no cadastro nacional dos maus pagadores, ela não pode abrir conta em banco, nem sonhar com um financiamento imobiliário. Quando o oficial de justiça bate à porta do prédio para entregar uma nova intimação, a fofoca circula entre os vizinhos. S.L. encolhe os ombros. “Sinto vergonha. Uma vergonha enorme de algo que não fiz.”
Nos tribunais, o destino das famílias falidas
A história de S.L. não é um caso isolado. Nos Tribunais de Justiça do país, centenas de famílias falidas em decorrência de tratamento médico são processadas pelos hospitais. Devem o que não têm, ou valores equivalentes ao patrimônio familiar construído ao longo da vida. São cobranças de R$ 600 mil, R$ 750 mil, R$ 1,5 milhão, R$ 5 milhões. As contas não são apenas impagáveis. São excessivamente detalhadas e incompreensíveis. É impossível avaliar a coerência dos valores cobrados. Qual o preço justo de um par de luvas cirúrgicas? E das agulhas hipodérmicas com dispositivo de segurança, na espessura Y, do fornecedor Z? Por que o soro fisiológico custa o dobro do preço cobrado na farmácia da esquina? Como as taxas de materiais e procedimentos são definidas? Como compará-las aos hospitais de mesmo porte?
Todo mundo sabe quanto custa um iPad, uma Ferrari ou um pacote de sabão em pó. Se não sabe, pode descobrir com um simples clique. Bem diferente do que acontece na saúde. Quando está em jogo aquilo que existe de mais precioso – a vida –, o consumidor não encontra instrumentos para exercer seu poder de decisão. Exauridas financeira e emocionalmente, as famílias que recebem contas astronômicas tentam comparar os valores cobrados por medicamentos de baixo custo e materiais básicos com os preços encontrados no varejo. Os hospitais argumentam que essa é uma comparação esdrúxula, porque os custos da assistência numa instituição de alto nível são superiores aos da farmácia da esquina. É um parâmetro imperfeito, sem dúvida. Ainda assim, no obscuro mercado da saúde, é o único disponível ao cliente.
Nos últimos meses, ÉPOCA seguiu os passos de famílias arrasadas por um duplo infortúnio: uma doença grave e a falência financeira decorrente dela. Analisou as cobranças recebidas por pacientes particulares de hospitais de alto nível: Albert Einstein, Sírio-Libanês e Samaritano, todos na capital paulista. Comparou os valores de insumos e medicamentos básicos com os preços praticados em farmácias e sites de materiais cirúrgicos. Grandes diferenças apareceram. Em março de 2012, o Einstein cobrou da família de H.L R$ 150 por 100 unidades de luvas de procedimento não estéreis. Dois anos depois, ÉPOCA comprou o mesmo item por R$ 30,66 no site da Drogaria Onofre. Em julho de 2012, o Sírio-Libanês cobrou R$ 5,91 por um frasco de 500 mililitros de soro fisiológico 0,9%. Vinte meses depois, ÉPOCA comprou o mesmo produto por R$ 3,20. Em abril de 2011, uma cliente do Samaritano pagou R$ 12,92 por um frasco de 30 mililitros de Rinosoro. Três anos depois, ÉPOCA comprou o mesmo medicamento por R$ 6,88. Os exemplos estão distribuídos ao longo desta reportagem. Procurados por ÉPOCA, os hospitais preferiram não comentar as diferenças encontradas em cada item. A falta de critérios claros para definir preços, que confunde as famílias e esgota economias, afeta todo o sistema de saúde. A indefinição sobre o valor dos produtos e dos serviços contribui para o aumento dos custos. A sociedade gasta mais dinheiro sem, necessariamente, ganhar mais saúde. ÉPOCA pesquisou processos movidos contra pacientes e entrevistou dezenas de especialistas para tentar entender como essas distorções afetam o país. O resultado da investigação, apresentado nas próximas páginas, é nossa contribuição para o debate informado de um dos temas mais urgentes da sociedade brasileira.
O custo da saúde
A poucos meses das eleições, a saúde é apontada nas pesquisas como maior preocupação dos brasileiros. Soluções mágicas e programas paliativos provavelmente serão propostos nos próximos meses, graças à criatividade dos marqueteiros políticos. Nenhuma dessas medidas será capaz de transformar a realidade brasileira. Isso só acontecerá quando a sociedade exigir uma solução para as duas razões do mau desempenho do Brasil em saúde: falta de gestão e falta de dinheiro.
O país aplica em saúde 9% do PIB. É pouco. A França gasta 11,7%. A Alemanha, 11,5%. O Reino Unido, 9,6%. Os Estados Unidos, 17,6%. A Argentina aplica menos (8,3%), mas tem indicadores de saúde melhores que os nossos. Isso significa que nossos vizinhos conseguem fazer uma gestão mais eficiente dos recursos (leia o quadro abaixo). Nos principais países europeus, mais de 70% dos gastos com saúde saem dos cofres do governo. Do pouco que o Brasil destina à saúde, 47% é dinheiro público, derivado dos impostos pagos por cidadãos e empresas. A maior parte dos gastos (53%) sai do caixa dos empregadores, que contratam convênios médicos para os funcionários, e do orçamento das famílias que gastam com planos de saúde, médicos particulares e remédios. Os cidadãos são duplamente penalizados. Financiam um sistema público de saúde que funciona mal – e comprometem grande parte do orçamento familiar com tratamento médico.

Diante das falhas do Sistema Único de Saúde (SUS), ter um plano de saúde privado tornou-se uma das maiores aspirações da população. Nos últimos cinco anos, 10 milhões de cidadãos conquistaram a sonhada carteirinha. Há hoje 49 milhões de almas (25% da população) a acalentar a ilusão de nunca precisar do SUS. Nem de se internar como um paciente particular e receber uma conta impagável. Quem paga as altas mensalidades dos planos de saúde acredita na garantia de receber atendimento médico quando precisar. Essa é a premissa que sustenta o crescimento do mercado da saúde suplementar. A realidade é menos rósea. Quando o convênio se recusa a cobrir algum procedimento hospitalar ou, por qualquer razão, o paciente é internado num hospital privado sem ter plano de saúde, a família vive um choque de realidade. Descobre o abominável mundo dos custos de saúde. Ser admitido num hospital na categoria “paciente particular” é uma operação de altíssimo risco. Significa estar à mercê de um sistema de preços confuso, criado num ambiente de transparência zero. Durante ou depois da internação, o doente ou seu responsável legal se veem atolados em cobranças.
O avanço espetacular da medicina e dos custos de saúde impõe um paradoxo. Em muitos casos, a sobrevivência do paciente representa a morte financeira das famílias. Nos Estados Unidos, o risco de um doente de câncer declarar falência é 2,5 vezes o da população. A conclusão faz parte de um estudo conduzido por Scott Ramsey, do Fred Hutchinson Cancer Research Center. “Matar o paciente financeiramente também é desrespeitar o juramento de Hipócrates”, disse a ÉPOCA o oncologista Hagop Kantarjian, do MD Anderson Cancer Center, da Universidade do Texas. Desde a Grécia Antiga, os médicos juram jamais aplicar tratamentos que possam causar dano ou malefício. Pode parecer mera questão semântica, mas Kantarjian levanta um dos mais atuais dilemas éticos da medicina. Em 2012, ele e outros médicos publicaram um manifesto contra o alto custo das novas drogas oncológicas na revista Blood, da Sociedade Americana de Hematologia. Os médicos ameaçavam deixar de recomendar aos hospitais a adoção das drogas mais recentes e caríssimas. A pressão surtiu efeito. Alguns fabricantes reduziram os preços dos novos medicamentos no mercado americano.
De onde vêm os preços
Respire fundo e conte até três. É preciso paciência para entender como são definidos os preços cobrados pelos serviços hospitalares. Eles são divididos em cinco categorias: diárias e taxas (como num hotel), medicamentos, materiais, gases medicinais (oxigênio e outros) e exames. Cada hospital define o valor da diária como bem entende. Para medicamentos, o parâmetro de cobrança é uma tabela chamada Brasíndice. As negociações com as operadoras de planos de saúde são feitas a partir dos valores dessa tabela, mas cada plano recebe descontos diferentes, dependendo do volume de pacientes que encaminha ao hospital. Para materiais, a referência é outra tabela, a Simpro. Se o cliente é atendido por meio do plano de saúde, ele não precisa queimar neurônios com isso. Se recebe a conta detalhada, como paciente particular, o pesadelo começa. O Ministério da Saúde deveria advertir: “Tentar consultar a Simpro na tentativa de comparar os valores com a conta hospitalar pode provocar colapso nervoso”. A lista de materiais ocupa 475 páginas. Os preços dos mais diversos insumos, nas mais variadas versões, fabricados por centenas de marcas, estão dispostos em tipologia minúscula. Quem procura o item “cateter” encontra milhares deles. Como saber que tipo foi usado no hospital, se as contas não trazem a especificação completa de cada produto? É um trabalho insano e possivelmente inútil. Os valores pagos por exames (tomografia, ressonância magnética e outros) são negociados com os convênios. A referência é uma terceira tabela, chamada Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), emitida pela Associação Médica Brasileira. Para próteses e aparelhos externos (órteses) não há tabela. O hospital negocia com os distribuidores.
Um exemplo: numa operação de coluna, o médico recebe uma caixa com cerca de 200 pequenas peças. Durante a cirurgia, escolhe o material a implantar no paciente – de acordo com o tamanho, o formato e a necessidade. O hospital não tem como controlar as decisões do médico nem o material usado dentro do centro cirúrgico. Os distribuidores não têm tabela de preço. De cada hospital, cobram um valor diferente. Esse sistema é um terreno fértil para fraudes e um incentivo ao desperdício. “Há casos em que o médico indica ao hospital a empresa que fornece o material e, ao mesmo tempo, recebe um incentivo do fabricante”, diz Sergio Bento, diretor técnico executivo da Planisa, uma consultoria especializada em gestão de hospitais e planos de saúde. O mercado das próteses e órteses virou caso de polícia em algumas cidades. No Paraná, deu origem a uma CPI da Assembleia Legislativa. A maior parte dos fornecedores de órteses, próteses e materiais especiais (chamados, segundo o jargão da saúde, de OPMEs) mantém cláusulas de confidencialidade em seus contratos com os hospitais. Proíbem a divulgação dos preços pagos por esses insumos. “Essa prática permite aos fornecedores cobrar de cada comprador um valor diferente pelo mesmo material”, diz o economista Luiz Augusto Carneiro, superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), uma entidade de pesquisa mantida por planos de saúde.

Esses materiais são o caso mais grave, mas não o único. Desde 2006, as empresas que vendem produtos médicos de alto custo – em geral, importados – são obrigadas a informar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) os preços que pretendem cobrar no Brasil. A Anvisa não tem o poder de regular preços, mas divulga comparações que ajudam os gestores públicos, os planos de saúde e os hospitais nas negociações. Em 2011, o preço médio pago pelos hospitais privados de São Paulo por um stent coronário (prótese metálica usada para desobstruir artérias) foi de R$ 14 mil. Menos que em Brasília (R$ 19 mil), Porto Alegre (R$ 20 mil), Fortaleza (R$ 21 mil) e Belém (R$ 22 mil). O preço de fábrica, informado à Anvisa pela empresa produtora, era R$ 19 mil. Na Alemanha, o mesmo produto custava € 642 (R$ 1.600). Na Espanha, € 1.500 (R$ 4 mil). Na Itália, € 728 (R$ 1.900). A alta carga tributária não é suficiente para explicar diferenças tão expressivas. “Ainda não sabemos por que esses produtos são tão mais caros no Brasil”, diz Renata Faria Pereira, do núcleo de assessoramento econômico em regulação da Anvisa. “O que contribui para os preços altos no Brasil é a assimetria de informação. O comprador e o gestor público não têm ideia do valor das coisas.”
Os preços inflam ao longo da cadeia da saúde. O fabricante ou importador vendem por X. O distribuidor cobra uma percentagem em cima desse valor quando negocia com o hospital. O hospital aplica outra quando negocia com o plano de saúde. E outra, bem maior, nos casos em que a negociação ocorre com o elo mais fraco de toda a cadeia: um paciente ou familiar em desespero. A disparidade de preços ocorre em todos os níveis. Até nos produtos de uso corriqueiro e baixo custo. No ano 2000, o engenheiro de produção Maurício Barbosa criou a Bionexo, uma comunidade eletrônica de negócios que hoje reúne mais de 800 hospitais e 15 mil fornecedores de todo o país. Ao acessá-la, o cliente consegue comparar os preços e condições de entrega de fornecedores de tudo o que ele precisa para funcionar: remédios, materiais, itens de gastronomia e de hotelaria. “Criamos uma oportunidade de transparência em compras de saúde”, afirma Barbosa. “A sociedade busca isso. Eu, como pessoa, busco isso.” A Bionexo sabe quanto cada cliente paga pelos mais diversos produtos e acompanha as variações de preço. ÉPOCA pediu que ela avaliasse a variação, em relação à média do mercado, dos preços cobrados dos pacientes citados nesta reportagem por alguns medicamentos básicos, como Rinosoro, Luftal, Plasil e Rivotril. A resposta revela as regras desse mercado: “A Bionexo, por contrato de confidencialidade, não torna públicas as informações sobre preços. Observando os medicamentos citados, podemos dizer que, no Brasil, eles podem variar em mais de 50% em função de volume, crédito e até marca”. Transparência é para poucos. Ao paciente, o cliente final da longa cadeia de negócios da saúde, resta a escuridão.

“O plano de saúde disse ‘não’. Lá se foi o apartamento”
A dentista Rita de Cássia Moreira Correia, de 48 anos, vendeu um apartamento em Belém, no Pará, e pagou uma conta de R$ 448.182,33 ao Hospital Samaritano, em São Paulo. Rita mora em Paragominas, a 300 quilômetros de Belém. Católica, ela decidiu conhecer Fátima, em Portugal, em abril de 2011. No meio da viagem, a irmã que a acompanhava notou que seu lábio superior parecia ligeiramente adormecido. Na volta ao Brasil, durante uma escala em Brasília, o passaporte caiu de sua mão. Rita imaginou ter sofrido um AVC. Assim que chegou a Belém, com falta de sensibilidade no lado esquerdo do corpo, procurou um hospital credenciado ao plano de saúde Unimed. Os médicos diagnosticaram um tumor cerebral. Quando o neurocirurgião que a acompanhava precisou viajar por motivos particulares, ela decidiu não perder mais tempo. Pegou um avião e foi buscar uma segunda opinião em São Paulo.
Agendou consulta com quatro especialistas durante a Semana Santa. O primeiro que a recebeu foi José Marcus Rotta, chefe do Grupo de Neuro-Oncologia da Universidade de São Paulo (USP). Assim que entrou no consultório, Rita notou a imagem de Nossa Senhora de Fátima sobre a estante. “Alguns podem chamar de coincidência. Eu chamo de Providência”, diz ela. “Foi a mão de Deus. Se não tivesse encontrado aquele médico, hoje estaria morta.”
Feita a conexão divina, faltava conquistar o entendimento entre os homens. O cirurgião operava no Hospital Samaritano, credenciado à Unimed Paulistana. O plano de saúde de Rita oferecia cobertura na rede nacional. Logo, ela acreditou que o tratamento em São Paulo seria coberto pela Unimed. Enquanto a família tentava conseguir uma autorização do plano de saúde para a internação, ela passou mal. Inconsciente, foi internada no Samaritano em caráter de urgência, como paciente particular. A autorização do convênio não saiu. “Paguei plano de saúde durante 12 anos. Quando precisei, fiquei desamparada”, diz. A neurocirurgia, feita no dia seguinte, foi bem-sucedida. Era só o começo do tratamento. Para combater o câncer – um tumor tecnicamente conhecido como linfoma não Hodgkin de sistema nervoso central –, Rita precisou de um transplante de células dela mesma. É um procedimento chamado de transplante autólogo, o mesmo que contribuiu para a recuperação do ator Reynaldo Gianecchini. Células saudáveis foram extraídas de sua medula óssea e guardadas. Em seguida, Rita enfrentou quatro sessões de quimioterapia em altas doses. Qualquer infecção poderia ser fatal.
Os médicos tinham a convicção de que ela não poderia ser transferida de hospital. Emitiram atestados com a informação de que se tratava de um caso gravíssimo. Segundo eles, Rita precisava ser atendida em um hospital de alta complexidade, como o Samaritano, por profissionais capacitados a realizar procedimentos sofisticados como aquele. Enquanto a briga com o plano de saúde se arrastava, a conta do hospital crescia: R$ 100 mil, R$ 150 mil, R$ 200 mil… Foi um caso difícil, de surpreendente sucesso. Três anos depois, Rita trabalha todos os dias no consultório. Exames recentes não detectaram qualquer sinal de retorno da doença.
Os 40 dias de internação em 2011 prolongaram-lhe a vida, mas consumiram cada tijolo do imóvel comprado a prestações ao longo de anos de trabalho. Rita saldou a dívida com o hospital. O sentimento de honestidade deu lugar ao arrependimento. “Foi um erro”, diz ela. “Se tivesse entrado com uma liminar na Justiça, não teria pagado essa conta.” Para tentar obrigar o plano de saúde a lhe restituir o dinheiro, Rita contratou o advogado Julius Conforti, especializado em Direito da Saúde. Segundo ele, vários fatos favorecem Rita nessa disputa: era uma situação gravíssima; não existia o tratamento necessário em Belém; o contrato garantia à paciente ser atendida num hospital da rede credenciada em São Paulo, e, além disso, ela foi internada em caráter de urgência. Conforti aconselha que as famílias não se desesperem ao receber a conta de um hospital. “Em vez de pagar, o melhor caminho é entrar com uma liminar judicial”, diz ele. “As pessoas vendem imóveis a preço de banana, dilapidam o patrimônio, depois tentam recuperá-lo na Justiça. Isso é possível, mas o processo costuma levar anos.” Procurada por ÉPOCA, a Unimed Belém não se pronunciou sobre o caso.

Um mercado doente
Em quase todos os setores da economia, uma cadeia produtiva é formada por parceiros com dois objetivos comuns: atender a uma necessidade do cliente e lucrar. Só há queijo no café da manhã porque alguém tira o leite da vaca e vende ao laticínio. A empresa fabrica o produto e fornece ao supermercado. O consumidor decide o que comprar. Do campo à mesa, todos ganham. Uns mais, outros menos, mas a parceria que os economistas chamam de “cadeia de valor” é vantajosa para todos. Do contrário, ela se desfaz.
No ramo da saúde, a lógica é outra. Não há parceria entre os dois principais elos da cadeia – os hospitais e os planos de saúde. Há competição, disputa, desperdício de energia e recursos. Segundo as regras atuais desse mercado doente, o lucro do hospital significa o prejuízo do plano de saúde – e vice-versa. Para aumentar seus próprios ganhos, cada lado do balcão adota medidas que elevam os gastos da sociedade com saúde, sem aumentar o benefício entregue aos clientes.“O sistema de saúde é um não sistema. Cada um está preocupado com o seu”, diz Ana Maria Malik, professora da Fundação Getulio Vargas (FGV), em São Paulo. “O Brasil sofre com doenças crônicas dispendiosas do século XXI, tem um sistema de saúde preparado para atender males do século XX e gestão do século XIX.”
As distorções que explicam a crise de saúde começam na base. Quando entrega o queijo ao supermercado, o produtor emite um boleto bancário. Sabe que, na data estabelecida, poderá contar com aquele pagamento. A relação comercial entre fornecedor e comprador em qualquer outra área funciona assim: uma empresa vende o produto e envia a fatura ao comprador.
“Na saúde, é diferente. O hospital manda as faturas para o plano de saúde, e ele decide se paga ou não”, diz Afonso José de Matos, professor de administração financeira e custos hospitalares da FGV e diretor presidente da Planisa. O embate é diário. Planos de saúde reclamam que os hospitais cobram muito mais do que valem os produtos empregados no tratamento de seus beneficiários. Hospitais argumentam que são obrigados a fazer isso porque os convênios se negam a reajustar tabelas de serviço. Ou simplesmente não pagam grande parte dos atendimentos já prestados.

Quem tem razão? “Muitas vezes os hospitais abusam. Noutras, as operadoras é que não ressarcem os valores que deveriam”, diz o economista da saúde André Medici, do Banco Mundial, em Washington. “Por precaução, os hospitais estabelecem preços mais altos para compensar as perdas que terão diante das negativas de pagamento pelos planos de saúde e pelos pacientes particulares inadimplentes.”
É assim que o dinheiro (do convênio, do cliente particular, do empregador, da sociedade) vai para o ralo sem produzir mais qualidade de vida. Os custos de saúde aumentam dramaticamente em todo o mundo. Uma das razões é a adoção de tecnologia. Exames, drogas e procedimentos sofisticados custam caro. Outra é o envelhecimento. Viver mais requer cuidados cada vez mais dispendiosos. Entre os idosos, 80% têm pelo menos uma doença. Mais de 30% têm três ou mais. O Brasil não se preparou para enfrentar a transição demográfica que se avizinha. Enquanto a Europa enriqueceu antes de envelhecer, o Brasil envelhece sem ter se tornado rico. Em 2030, o país terá mais de 40 milhões de idosos, ou 17% da população. Doerá no bolso.
Uma terceira razão leva ao aumento dos custos: a indefinição do valor dos serviços de saúde. É um fator incômodo, sobre o qual pouco se fala – e a que se dedica esta reportagem especial de ÉPOCA. “Os hospitais prestam serviço sem saber quanto ele custa; as operadoras pagam sem saber quanto ele vale”, diz Matos, da Planisa. “Fica uma discussão sem dados. Qualquer boteco faz isso melhor.”
Num sistema saudável, o bom hospital seria capaz de curar ou tratar adequadamente um paciente e, ainda por cima, gastar pouco. A qualidade técnica, a segurança e a eficiência no controle de custos atrairiam mais clientes e o fariam prosperar. No atual modelo brasileiro, a função do hospital é distorcida. Os hospitais passam a visar à doença. Quanto mais a situação do paciente se complica, melhor para eles. Quanto maior o uso de insumos banais como esparadrapo e seringa, mais ganham. Ao contrário do que o senso comum imagina, as maiores fontes de receita dos hospitais privados não são os exames sofisticados, os quartos luxuosos ou a especialidade dos médicos. “Os hospitais viraram grandes varejistas de insumos”, diz Sergio Bento, da Planisa. Durante 15 anos, ele foi gestor do Samaritano, em São Paulo. “Para os hospitais, insumo é receita – não custo.”
Existem 4.081 hospitais privados no Brasil. Desses, 2.615 têm fim lucrativo. A nata das instituições, aquelas que seguem um padrão elevado de assistência e gestão, compõe a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp). São apenas 48. Seu presidente, Francisco Balestrin, reconhece a distorção mencionada por Bento e diz que a Anahp pretende liderar um movimento para combatê-la. “Todo mundo gosta de criticar, mas ninguém sabe a história por trás disso”, diz Balestrin. Diante do tabelamento de preços imposto pelo Plano Cruzado, em 1986, as taxas e os serviços cobrados pelos hospitais também foram congelados. As regras da economia mudaram nos anos seguintes. Por muito tempo, os hospitais não conseguiram reajustar seus preços.
Não demorou a surgir uma solução engenhosa: criar taxas para tudo. Taxa para aplicar injeção. Taxa para fazer curativo. Taxa de maca, para transportar o paciente de um lugar para o outro. “Hoje, as listas de preço parecem árvores de Natal”, diz Balestrin. “Isso foi necessário para garantir nossa sobrevivência diante do tabelamento de preços imposto pelo governo.” O Plano Cruzado é passado. Mesmo depois de 20 anos de estabilidade proporcionada pela nova moeda, o real, as regras insólitas que regem o relacionamento entre hospitais e planos de saúde não mudaram. “Aplicar os custos do hospital sobre o valor dos medicamentos e dos materiais é hoje a única forma de manter a saúde financeira das instituições”, diz Balestrin. Essa é uma longa tradição que precisa acabar.
Mais doença, mais dinheiro
No Brasil, o sistema privado remunera a doença – não a saúde. Os convênios pagam os hospitais de acordo com um modelo conhecido como “conta aberta”. Ou, em inglês, “fee for service” (pagamento por serviço). Uma conta é gerada para cada paciente. Todo e qualquer item usado no atendimento (dos mais banais aos mais sofisticados) é colocado na conta. A papelada é enviada ao plano de saúde ao longo da internação ou ao final do atendimento. Cem mulheres, 100 cesarianas, 100 contas diferentes. A operadora analisa cada uma e discute o que foi feito. Corta o que considera item desnecessário ou cobrança excessiva. A recusa de pagamento aos hospitais é chamada de “glosa”. As operadoras mantêm auditores nos hospitais para verificar se o que está na conta realmente consta no prontuário de cada paciente. Eles verificam tudo: coerência da indicação, duplicidade de itens etc. Isso custa. Manter esses batalhões de auditores representa o segundo maior gasto administrativo das operadoras. O primeiro é a equipe de vendas de planos de saúde. “É o custo da desconfiança”, diz Bento, da Planisa. “Com tudo isso, as operadoras têm uma margem de lucro muito pequena.” Não há mágica. Se o custo aumenta (administrativo ou derivado do tratamento), mais cedo ou mais tarde é repassado aos clientes individuais ou empresariais.
Isso ajuda a explicar por que, na maioria dos casos, exames e procedimentos mais caros só são realizados com autorização prévia do convênio. É uma novela que médicos e conveniados conhecem bem. O funcionário do hospital, o cliente ou ambos telefonam ao plano de saúde e passam longos minutos ouvindo musiquinhas de tirar qualquer um do sério. Com sorte, o procedimento é autorizado. Com frequência, é negado. À família, restam duas opções: procurar outro hospital ou assumir a conta. “De 2% a 4% dos pacientes dos hospitais são particulares. As tabelas de negociação com eles são de 30% a 40% superiores às cobradas das operadoras”, diz Bento. “É uma distorção.”
Muita gente acha que tem plano de saúde. Até que percebe que, na prática, é como se não tivesse. O número de reclamações contra os convênios cresceu 31% em 2013, na comparação com o ano anterior, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No ano passado, foram recebidas 102.232 queixas. Em 72% dos casos, a razão foi uma só: negativa de cobertura. Para coibi-la, a ANS aplica multas. Punições desse tipo só são pedagógicas se realmente doerem no bolso, o mesmo princípio das multas de trânsito.
Mas as operadoras encontraram um jeito de se safar da punição. Câmara e Senado aprovaram há poucas semanas uma nova sistemática para a cobrança dessas penalidades. Hoje funciona assim: a cada negativa de cobertura comprovada pela ANS, a empresa deve pagar uma multa de R$ 2 mil. Se a empresa nega dez procedimentos, pagará R$ 20 mil. Com a mudança aprovada pelo Congresso, se o plano de saúde negar de dois a 50 procedimentos, pagará apenas duas multas (R$ 4 mil, em vez de R$ 100 mil). Daí em diante, haverá uma escala. Quanto pior o serviço da operadora, menor será a multa. A mudança deseducativa só entrará em vigor se for sancionada pela presidente Dilma Rousseff. A exemplo do que aconteceu com a votação sobre o Código Florestal, o movimento #VetaDilma já está lançado.
Na solidão do corredor escuro
Os administradores dos hospitais costumam apresentar a mesma justificativa para os altos preços cobrados por insumos banais. O engenheiro Luiz de Luca, superintendente corporativo do Samaritano, faz uma comparação com uma garrafa d’água. “Todo mundo sabe que ela custa R$ 1,30 no supermercado, mas aceita pagar R$ 6,50 pelo mesmo produto num restaurante chique”, diz. “O consumidor paga porque acha que o restaurante vale a pena. Tudo depende da percepção de valor que o cliente tem. Com hospital, é a mesma coisa.” Para aceitar essa analogia, é preciso relevar diferenças cruciais entre os dois setores. Quem vai a um restaurante pode planejar o programa, consultar os preços e escolher aquele que cabe em seu bolso. Ninguém escolhe ficar doente. Quando a necessidade de cuidado se impõe, a família não está no controle da situação. Ela busca atendimento sem contar com o benefício de saber quanto terá de desembolsar ao final do tratamento.
O dramático, na saúde, é a falta de previsibilidade sobre as despesas. Mesmo que o paciente receba um orçamento do tratamento, ele sempre será impreciso. Segundo Balestrin, da Anahp, os hospitais mantêm listas de preços de procedimentos afixadas em lugar visível, mas ele reconhece que é preciso ir além. “Talvez falte um site onde as pessoas possam verificar os preços”, diz. “Ainda assim, as famílias não deveriam se fixar tanto no preço de cada item. É preciso pensar no custo final que os hospitais têm, e isso elas nunca conseguirão saber enquanto o sistema de pagamento for do tipo conta aberta.” Hospitais não lucram como bancos. “A margem de lucro operacional do Einstein e de muitos dos melhores hospitais de São Paulo é de 5%”, diz o oftalmologista Claudio Lottenberg, presidente do Hospital Albert Einstein. Comparar preços, diz ele, é um parâmetro errado. “Não adianta apresentar um menu para o cliente verificar preços. O que falta é compromisso com o resultado.”
Nos Estados Unidos, há um forte movimento pela transparência. A economista Bobbi Coluni realizou um estudo revelador para a empresa Truven Health Analytics. Ela analisou as variações de preços de 300 procedimentos hospitalares e ambulatoriais. Descobriu que o preço de uma artroscopia de joelho em Chicago variava de US$ 1.000 a US$ 5 mil. Concluiu que a sociedade americana economizaria US$ 36 bilhões por ano se os hospitais cobrassem, de todas as fontes pagadoras, o preço médio de mercado. “Os consumidores tomam decisões que provocam gastos sem ter a informação necessária para fazer bom uso do dinheiro”, disse Bobbi a ÉPOCA. “É preciso encorajá-los a exigir informação dos prestadores de serviço.” Segundo ela, isso criará competição, aumentará a eficiência e reduzirá custos. No ano passado, o governo americano criou dois sites para ajudar o cidadão a comparar e a escolher hospitais e planos de saúde. Nas páginas www.medicare.com e www.cms.gov, é possível acessar indicadores de qualidade de 3.300 hospitais e comparar preços de 130 procedimentos. No Brasil, o discurso da transparência é mais eloquente que a prática. ÉPOCA pediu que Albert Einstein, Sírio-Libanês e Samaritano informassem os preços cobrados de pacientes particulares por dez procedimentos e produtos de uso corriqueiro. Itens como hemograma, tomografia, soro fisiológico, paracetamol, omeprazol e seringa descartável. Nenhum deles aceitou divulgar a informação.
“Hoje, você tem um médico na sua frente. Amanhã, um advogado”
A contadora Valquiria Catelli Nogueira dirige o departamento financeiro da Câmara Municipal de Paulínia, no interior de São Paulo. A familiaridade com os números não aliviou sua sensação de impotência diante da cobrança que lhe foi apresentada pelo Hospital Sírio-Libanês, há quase dois anos. Segundo o último registro do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela deve R$ 447.003,86, sem os juros. É um valor superior ao da casa própria em que vive, avaliada, segundo ela, em R$ 390 mil. “Quando entramos num hospital, não imaginamos que cada agulhinha, cada esparadrapo será cobrado separadamente, item por item”, diz Valquiria. “Além da angústia provocada por uma doença grave, vivemos a agonia de não conseguir mensurar o valor de nada.”
O Sírio-Libanês entrou com uma ação de cobrança contra Valquiria porque ela assinou, como acompanhante, o documento de internação da comerciante Claudia Cristina Miranda, em julho de 2012. “Ela era como uma irmã”, afirma Valquiria. “Um anjo com quem tive o prazer de conviver.” As duas dividiram a casa e as despesas durante 12 anos. Claudia morreu no ano passado, aos 40 anos, de câncer de ovário. “Tenho a consciência de que fiz tudo o que estava a meu alcance para tentar salvá-la”, diz Valquiria. Uma das providências foi buscar a Justiça para garantir que ela pudesse ser submetida a uma cirurgia para extrair o tumor e aplicar quimioterapia na mesma operação. Era um recurso sofisticado, na época só feito em hospitais de primeira linha, como o Sírio-Libanês.
O plano de saúde, a Unimed de Campinas, não cobria o procedimento nem a internação no famoso hospital filantrópico paulistano, conhecido por atrair políticos e artistas. Com uma liminar judicial favorável, Claudia foi internada. “Estávamos tranquilas. Graças à decisão do juiz, sabíamos que não teríamos de arcar com as despesas de um hospital daquele nível”, diz Valquiria. Dez dias depois da cirurgia, Claudia precisou ser reinternada às pressas. Uma fístula próxima ao reto provocara uma infecção. Claudia entrou pelo pronto-socorro, como paciente particular. Assim como os irmãos, os sobrinhos e os pais idosos, Claudia vivia da renda de uma pequena loja de material de construção, em Campinas. Não tinha condições de arcar nem sequer com uma semana de Sírio-Libanês. O médico emitiu um relatório para ajudá-la a explicar ao juiz que a fístula era decorrente da cirurgia. A reinternação, segundo esse raciocínio, deveria ser custeada pelo plano de saúde. A Justiça não aceitou essa argumentação. “Hoje, você tem um médico na sua frente. Amanhã, um advogado”, diz Valquiria. Na ação contra a Unimed, Claudia e Valquiria foram representadas pela advogada Renata Vilhena Silva, especializada em Direito da Saúde. Segundo Renata, a pior coisa que pode acontecer a um paciente é precisar de um atendimento de alta complexidade e não o encontrar na rede credenciada. “Os clientes pagam um plano de saúde e têm um atendimento péssimo”, diz Renata. “Quando precisam de um tratamento de primeira linha, são obrigados a buscá-lo fora da rede credenciada e enfrentam essa incompatibilidade de preços praticada pelos hospitais.”
Em três meses de hospital, a conta de Claudia somou 2.754 itens. Em cada linha, aparece a descrição enigmática de materiais e preços impossíveis de comparar com coisa alguma. Valquiria tentou analisar a cobrança. Fracassou. Como saber se uma ampola de Sandostatin 0,1 mg/mL Inj (=100 mcg/mL) valia mesmo em agosto de 2012 os R$ 74,85 cobrados pelo hospital? Ou se, um mês antes, era aceitável pagar R$ 4,54 por uma Seringa Desc. 20 ml S/Agulha Bico Luer Lock? O peso da dívida aumentou o sofrimento de Claudia. “Ela ficava angustiada toda vez que alguém do departamento financeiro ligava no quarto e dizia a ela que a conta já havia chegado a R$ 100 mil, R$ 200 mil…”, diz Valquiria. O Sírio-Libanês afirma que sempre esteve à disposição dos familiares e da acompanhante de Claudia para oferecer todas as informações necessárias. Segundo o hospital, ações judiciais representam um último recurso. “Continuamos abertos, inclusive, a uma nova negociação, que leve a um acordo favorável a todos.” A Unimed de Campinas argumenta que Claudia buscou tratamento em um hospital não oferecido pelo plano contratado. Em nota enviada a ÉPOCA, a Unimed afirma: “Sob o prisma da regularidade, quer legal ou contratual, a Unimed Campinas em momento algum negou atendimento assistencial à beneficiária”. A briga jurídica entre a família de Claudia e o plano de saúde continua. Agora, no Superior Tribunal de Justiça.
Os saudáveis e os moribundos
A falta de transparência que impera na medicina privada brasileira impede que os clientes tomem partido nas disputas do setor. No chororô recíproco de hospitais e planos de saúde, quem tem razão? Quem está saudável? Quem está moribundo? “Instituições como Albert Einstein e Sírio-Libanês estão bem, mas a maioria dos hospitais não está”, diz Bento, da Planisa. Muitos concorrentes oferecem serviços semelhantes. A clientela fica diluída. Sem volume de atendimento e com falhas de gestão, eles obtêm lucros modestos – quando lucram. Os 23 maiores hospitais dos Estados Unidos têm mais de 1.000 leitos. O Albert Einstein, considerado um gigante com 647 leitos, não estaria entre os 100 maiores americanos. Ainda assim, basta circular por São Paulo para perceber uma intensa expansão no setor hospitalar. Muitos viraram canteiro de obras. Até 2016, estão previstos 4.332 novos leitos nos hospitais privados do país.
“Os melhores crescem. Os menores e menos competitivos tendem a desaparecer”, diz Marcelo Caldeira Pedroso, professor do Departamento de Administração da FEA-USP. Há maior eficiência quando o volume de produção aumenta. “Quando conseguem aumentar o volume de serviços com uma adequada taxa de utilização, os hospitais tendem a reduzir o custo dos serviços prestados”, diz Pedroso. “É uma questão de economia de escala.” A Índia pode servir de inspiração aos hospitais brasileiros. Ao investir no volume de atendimentos, alguns hospitais atingiram alto nível de excelência médica com custos baixíssimos. Viraram um celebrado exemplo de inovação.
Na outra ponta, dos convênios, a saúde das empresas também é heterogênea. Alguns planos vão bem, outros estão quase quebrando. De forma geral, todos reclamam de falta de transparência e do aumento nas contas. “Os balanços dos planos de saúde são auditados. No restante da cadeia (hospitais, clínicas etc.) nem sempre”, diz Luiz Augusto Carneiro, do IESS. “É uma caixa-preta. Ninguém sabe quem ganha dinheiro.” Os custos hospitalares aumentaram 15,4% em 2012, segundo um estudo do IESS. O índice manteve-se acima da variação registrada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mesmo período, de 5,4%. Segundo Carneiro, o que chama a atenção é a diferença de 10 pontos percentuais, maior que a média histórica. Carneiro acredita no livre mercado. É um economista formado pela FGV do Rio de Janeiro, um grupo identificado com o liberalismo mais puro. Apesar disso, afirma que, sozinho, o mercado não será capaz de resolver as disputas improdutivas que prejudicam a sociedade. “Do jeito como a saúde funciona no Brasil, toda a estrutura se volta para incentivar o aumento de custos”, diz. “Quando o mercado não é capaz de resolver tantas falhas do próprio sistema – como o caso da assimetria de informação que compromete a comparação de preço e qualidade –, cabe ao governo criar mecanismos de transparência e incentivar a concorrência”, afirma. Segundo ele, as operadoras têm sentido inflação alta nos produtos de baixo valor. “A nova moda dos hospitais é cobrar muito por materiais de baixo custo”, diz Carneiro. Esparadrapo, paracetamol, seringa pesam no orçamento como nunca.
O remédio amargo
Nos últimos dez anos, o guru dos negócios Michael Porter, professor do Instituto de Estratégia e Competitividade da Harvard Business School, se dedicou a estudar os desafios dos diferentes sistemas de saúde adotados no mundo. “Precisamos transformar totalmente o sistema privado de saúde vigente nos Estados Unidos e no Brasil. Sabemos o caminho a seguir. O desafio é conseguir fazer as mudanças”, diz Porter.
No livro Redefining health care: creating value-based competition on results (algo comoRedefinindo a atenção à saúde: criando competição baseada em valor sobre resultados), Porter discute por que as regras do livre mercado falharam na saúde. Num mercado normal, a competição leva a ganhos de qualidade e à redução de custos. A rápida difusão das novas tecnologias melhora o jeito de fazer as coisas. Excelentes competidores prosperam e crescem. É assim em todas as indústrias que funcionam segundo as leis da boa competição: computadores, celulares, bancos e muitas outras. Na saúde, não ocorre nada disso. Os custos são elevados e crescem cada vez mais. Os problemas de qualidade persistem. A falha da competição é evidente nas grandes e inexplicáveis diferenças no custo e na qualidade do mesmo tipo de assistência entre hospitais e em diferentes regiões geográficas. A competição não premia os melhores prestadores de serviço, nem faz os piores saírem do negócio. “Essas coisas são inconcebíveis num mercado que funciona bem e intoleráveis na saúde, porque a vida está sob ameaça”, escreve Porter. Por que, afinal, a competição falha no setor da saúde? Por que o valor, a qualidade do que é entregue ao paciente, não aumenta como nas outras indústrias? A razão, afirma Porter, não é a falta de competição, mas o tipo errado de competição. “Na saúde, ela ocorre em níveis errados e nas coisas erradas”, diz ele. “É uma competição de soma zero, em que os ganhos de um participante ocorrem à custa do prejuízo de outros.” Os participantes competem para jogar os custos ao outro, acumular poder de barganha e limitar serviços. “A única forma de reformar a assistência à saúde é reformar a natureza da competição”, diz Porter. É preciso realinhar a competição com o valor entregue ao paciente. Valor, na assistência à saúde, significa resultado obtido por unidade monetária gasta.
Para fomentar a competição que faz bem e melhorar o valor dos serviços entregues ao cliente, é preciso mudar o modelo de remuneração dos hospitais. Assim como Porter, especialistas brasileiros defendem a mudança do modelo de “conta aberta” para o modelo de pagamento por procedimento. Os hospitais passariam a receber um valor fixo de acordo com cada serviço prestado. Os valores seriam negociados entre hospitais e planos de saúde. Receberiam um valor X por uma cirurgia cardíaca, um valor Y pelo tratamento de um paciente com câncer etc.
No SUS, os hospitais são remunerados pelo governo dessa forma. Não podem cobrar por aspirina, agulha ou esparadrapo. Vários países europeus (como Reino Unido, França, Alemanha, Portugal, Espanha, Suíça, Suécia) também adotam o pagamento por procedimento. Desde os anos 1990, usam um modelo sofisticado, chamado de “diagnostic related groups” (DRG). Em português, significa “grupo de diagnóstico homogêneo”. Dependendo do tipo de paciente, o valor que o hospital recebe para o mesmo procedimento é diferente. Tratar uma pneumonia numa criança custa um determinado valor. Num idoso, custa mais. Num doente de aids, mais ainda. O DRG não funciona exatamente da mesma forma em todos os países. Cada um incorpora diferentes fórmulas de cálculo de remuneração, de acordo com peculiaridades e necessidades do país. Em geral, há uma compensação financeira para os hospitais com melhor desempenho, segundo critérios de qualidade e atendimento. Um estudo coordenado por Philipp Schuetz, da Escola de Saúde Pública da Universidade Harvard, avaliou resultados de instituições remuneradas segundo os dois sistemas, DRG e conta aberta, em hospitais da Suíça. Os pesquisadores compararam os dados de 925 pacientes atendidos para tratamento de pneumonia. Concluíram que a estadia hospitalar era 20% mais curta quando as instituições recebiam pelo sistema DRG.
Quando recebem por procedimento, os hospitais são estimulados a fazer um uso racional dos recursos da saúde. Negociam os preços com os fornecedores de materiais e adotam diretrizes de tratamento, com o objetivo de atingir os melhores resultados com o mínimo de gasto. O DRG é a nova sensação da área no Brasil. Tem sido defendido como uma solução tanto por hospitais como por operadoras. Mas é um sistema complexo. “O mercado da saúde deveria se chamar ‘fashion healthcare’. Cada hora é uma moda”, diz Luiz de Luca, superintendente corporativo do Hospital Samaritano. “O DRG foi inventado nos anos 1970, mas agora os brasileiros resolveram achar que ele serve para qualquer situação. Virou um vestidinho clássico. É o novo tubinho preto.”
Segundo De Luca, a maioria dos hospitais e operadoras brasileiras não sabe sequer como ele funciona. Para dar certo, é preciso avaliar se cada paciente tem doenças correlacionadas e avaliar o estágio de cada uma. Depois, ainda é preciso aplicar preços diferentes. “Podemos adotar o DRG, mas é preciso combinar com os russos (as operadoras) antes”, afirma. “As operadoras dizem que o DRG seria o jeito justo de remunerar. Na hora de fazer, alegam que não têm como colocar isso no sistema delas.” Está em curso uma discussão nacional para mudança do modelo de remuneração, promovida pela ANS. Afonso José de Matos, da Planisa, é o mediador de uma difícil negociação entre hospitais privados e planos de saúde. A discussão já dura três anos. No início, as partes não queriam dividir a mesma mesa.
Foram dezenas de reuniões. Uma por mês. Um novo modelo de remuneração (um método simplificado, para uma futura adoção do DRG) está em teste em 17 pares de hospitais e operadoras. É um primeiro passo. Segundo Matos, o modelo atual gera indignação. “Tem hospital que usa medicamento genérico e cobra o de marca. Nesse sistema, quem não tem princípios frauda”, diz Matos. Outro complicador é a falta de padrão. Se um hospital tem 50 médicos, cada um faz o que bem entende. Não pode ser assim. Um hospital precisa ter conduta, diretrizes médicas e se cercar de um bom sistema de custos para negociar com as operadoras. “O sistema precisa sair do ciclo maldito que temos hoje. Precisa sair da análise de conta e ir para o resultado. O que interessa é saber se curou o paciente”, diz Matos.
Essa também é a opinião do superintendente corporativo do Hospital Sírio-Libanês, Gonzalo Vecina Neto. “Não tem cabimento continuarmos cobrando por mililitro de oxigênio consumido”, diz ele. Se hospitais e operadoras querem adotar o mesmo modelo, por que é tão difícil chegar a um acordo? Vecina diz que as duas partes estão sentadas à mesa, mas jogando pôquer. “Ninguém pisca, porque ninguém está a fim de perder. É muito difícil construir uma relação ganha-ganha na situação em que estamos”, afirma.
O acordo não sai porque envolve mexer nas margens de lucro. Na transição para o novo modelo, as operadoras querem que os hospitais cobrem os medicamentos e materiais a preço de custo, mas não parecem dispostas a aumentar a remuneração daqueles serviços que representam a missão essencial de um hospital: diagnosticar, tratar e curar com qualidade e segurança. A discussão vai longe. Os pacientes têm pressa.
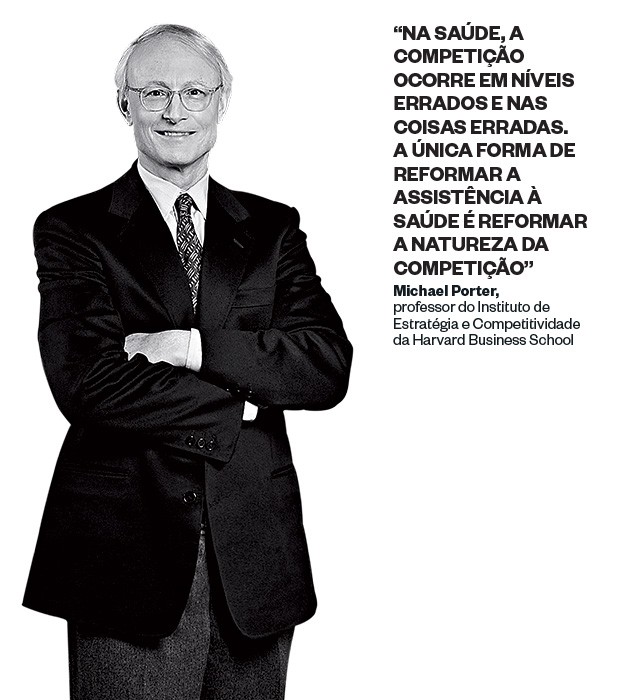
A família de H.L., o médico internado no Albert Einstein que abriu esta reportagem, tem a esperança de que o plano de saúde assuma parte da dívida. A oftalmologista S.L., sua filha, diz que, um mês após a cirurgia, tentou transferir o pai para um hospital conveniado ao plano de saúde. Não conseguiu. “As instituições diziam não ter vaga na UTI”, afirma. “Ninguém quer assumir um caso complicado como esse.” A Unimed de Assis nega. Diz que ofereceu à família um hospital credenciado para a realização da cirurgia. Em nota encaminhada a ÉPOCA, afirma que o paciente “deixou clara sua opção para que o referido procedimento fosse realizado no Hospital Albert Einstein, assumindo o risco desta autonomia própria e singular. A operadora mantém a disponibilidade da rede credenciada para o tratamento do sócio cooperado H.L., postura adotada desde o início”.
A advogada de S.L. apresenta outra versão. “Comprovamos nos autos que o paciente só não foi transferido porque o hospital credenciado ao plano de saúde não aceitou recebê-lo”, diz Renata Vilhena Silva. Se a família deve cerca de R$ 5 milhões, afirma ela, é porque o hospital credenciado não aceitou esse paciente, e o plano de saúde não deu outra solução. “Minha cliente fez de tudo para transferir o pai”, afirma. O Einstein prefere não comentar o caso. Numa das mais recentes etapas da disputa, argumentou que o paciente pode ser atendido em casa. A família discorda. Diz que as condições de saúde dele variam abruptamente. “Se o levarmos para casa, em menos de uma hora ele pode voltar a precisar de UTI”, diz S.L. “O que o Einstein chama de situação estável significa cuidar dele 24 horas por dia: aspirar, virar, verificar a febre e correr para o hospital se a pressão cair.”
Até o fechamento desta edição, a família perdia o processo. Ainda cabe recurso. S.L. adiou o casamento. “Dói muito pensar que meu pai não poderá entrar na igreja comigo, como fez com minha irmã e minha prima”, diz.
Os boletos de cobrança continuam a deslizar sob sua porta.
Jordi Savall: “A música traz a emoção do momento”
Desde a década de 1970, o músico catalão Jordi Savall navega contra a maré de sua geração. Quando vários compositores buscaram novas estéticas e pregaram a ruptura com a harmonia clássica, ele preferiu se embrenhar na cultura musical da Europa antiga. Recuperou dos mosteiros e palácios barrocos a viola da gamba, tataravó sofisticada do violão. Compositores como Marin Marais e Jean-Baptiste Lully, nomes esquecidos das cortes francesas, devem a ele seu retorno às salas de concerto. Seu maior reconhecimento veio em 2012, com o prestigioso prêmio dinamarquês Léonie Sonning. A ÉPOCA, Savall criticou o desprezo pela cultura e disse que a música antiga nunca foi tão apreciada. Ele virá ao Brasil em outubro, para um concerto do Festival Mimo em Tiradentes, reduto do barroco mineiro.

ÉPOCA – O senhor recuperou com sucesso uma série de compositores esquecidos de períodos como Renascimento e Barroco. Como redescobre essas obras e as transpõe para concertos do presente?
Jordi Savall – Todos os meus projetos são uma combinação de fontes musicais. Estudo contextos históricos, instrumentos da época, estilos de composição e maneiras de cantar. Neste momento, trabalho num projeto sobre a luta dos escravos. Busquei vilancetes (canções populares dos séculos XVII e XVIII) de negros e mulatos em diferentes lugares, como Colômbia e Brasil. É um processo longo e complexo. Quando tudo está alinhado, consigo estabelecer um programa a partir de um personagem, como Miguel de Cervantes, ou mesmo de uma região, como o Mar Mediterrâneo. Só assim conseguimos contar coisas que apenas a música pode revelar.
ÉPOCA – O que apenas a música pode nos revelar?
Savall – Tudo o que chega a nós pelos textos é sempre muito intelectual. No ano de 1209, os cruzados tomaram a cidade de Béziers, no sul da França. Mataram cerca de 20 mil pessoas. Queimaram tudo – mulheres, crianças e igrejas. Nos textos, lemos apenas: “Que barbaridade!”. Se escutarmos a mesma história, cantada no texto da Chanson de la croisade (Canção da cruzada), temos a emoção do momento. É como se estivéssemos ali, conhecendo e sentindo o que ocorria.
ÉPOCA – Mesmo com esse forte aspecto emotivo, a música continua a mais matemática das artes?
Savall – É a arte mais capaz de transmitir emoção, espiritualidade e beleza, sem, contudo, nada conter. Simplesmente com a voz humana e um instrumento. A música existe apenas no momento em que cantamos e tocamos. É isso que fica em nossa memória. Um quadro existe por séculos. Um livro pode ser lido em vários momentos. As músicas, mesmo as gravadas, permanecem apenas na memória. Por isso, é tão importante a emoção.
ÉPOCA – Seu trabalho pertence hoje mais ao universo da música ou da história?
Savall – Sou um músico. Mas a música é uma linguagem que pertence à história. Com ela, viajamos pelo tempo e ganhamos condições de participar das emoções de pessoas de outras épocas. Isso porque a música está presente em tudo. É nossa primeira linguagem, quando ouvimos nossas mães cantarem canções de ninar. Ao aprendermos a falar, os idiomas se tornam música. É por isso que a interpretação de obras populares e tradicionais é tão importante. Elas falam do mais essencial do ser humano e ajudaram muitos a suportar circunstâncias difíceis. Escravos, refugiados e homens pobres – todos faziam música.
ÉPOCA – Alguns críticos disseram que sua música é mais próxima do jazz que da música clássica. O senhor concorda com esse julgamento?
Savall – Depende do repertório. Em geral, sim. No Renascimento, muito do que se produziu para a viola da gamba e outros instrumentos estava baseado em melodias populares. Todas nasciam da improvisação sobre temas e danças como a folia, a sarabanda ou o passamezzo. Quando trabalho com improvisações em músicas medievais, mediterrâneas e orientais, há muita espontaneidade. Crio toda uma fantasia sobre um material básico. Ao mesmo tempo, é preciso estabelecer um mundo estável para desenvolver suas ideias. Sempre construo interpretações preservando o que fiz de melhor no passado.
ÉPOCA – Muitos compositores do século XX, como Lukas Foss ou Olivier Messiaen, tentaram recuperar de uma forma moderna a música antiga. Qual sua opinião sobre essas tentativas?
Savall – O que produziram é algo muito bom. Sou amigo do compositor Arvo Pärt, que soube se basear no passado e produzir algo moderno. Vivemos hoje o primeiro verdadeiro renascimento musical da história. Por todo o mundo, há intérpretes magníficos, que lidam com músicas de todos os tempos com enorme qualidade. Nos séculos XIV e XV, não houve renascimento musical. Os pintores renascentistas redescobriram a produção de gregos e latinos. Os músicos dessa mesma época não escutaram nenhuma das composições daqueles povos. Hoje, as músicas antigas e adormecidas renascem pela primeira vez.
ÉPOCA – Você e sua mulher, a cantora Montserrat Figueras, sempre trabalharam sem a força da publicidade de grandes gravadoras, como Gramophone e Naxos. Ainda assim, é um dos nomes mais procurados na internet a respeito de música clássica. Como isso foi possível?
Savall – Passamos mais de 40 anos apresentando concertos e gravando discos até conseguir isso. Todos os anos, apresentamos, em média, 150 concertos e lançamos seis discos. Isso estabelece um diálogo e um interesse constantes. É preciso sempre cuidado com os detalhes. O segredo é fazer as coisas bem, e tentar sempre torná-las belas.
“A música é uma forma de dizer que não concordamos com esta forma selvagem de vida”
ÉPOCA – O senhor fala em décadas de trabalho. Como se sente num mundo tão acelerado?
Savall – Cada vez mais, as pessoas se fecham em si mesmas e vivem de forma egoísta. O mais importante hoje é encontrar tempo para pensar e refletir. Trabalho muito, mas também dedico momentos ao contato humano, com meus músicos e minha família. Sou um realista que acredita na luta para melhorar as coisas. Neste mundo, onde tantos sofrem, e os jovens não têm esperança, a música pode transmitir uma mensagem de paz. Ela é uma forma de dizer a todos com clareza que não concordamos com esta forma selvagem e incivilizada de vida.
ÉPOCA – A cultura foi uma das principais vítimas da crise financeira da Europa. Na Espanha, o orçamento cultural caiu pela metade desde 2009. Qual seria a melhor solução?
Savall – Consigo sobreviver porque sou convidado para vários concertos. Então, surgem recursos para financiar novos projetos. A solução seria exigir dos mais ricos um pouco mais de altruísmo diante de trabalhos educativos e culturais. As grandes fortunas encampam todas as riquezas do mundo. As pessoas estão mais desamparadas e sem recursos. Sem cultura, a sociedade não se transforma, nem evolui.
ÉPOCA – Nos últimos anos, seus projetos ganharam um tom político. O projeto Pro Pacem (Pela paz, na tradução do latim) é uma espécie de manifesto na forma de música, literatura, artes plásticas e filosofia. Em termos concretos, como a música pode ser uma arma contra o terrorismo e a violência?
Savall – Antes de mais nada: onde as armas atiram, a música não funciona. Para que seja eficaz, é preciso primeiro parar de lançar bombas. Numa situação conflituosa, a música é capaz de acalmar os ânimos. Tivemos essa experiência em vários pontos do mundo. Unimos músicos israelenses e palestinos, turcos e armênios, sérvios e bósnios. Foi maravilhoso! Num primeiro momento, isso foi complicado, porque havia reserva e tensão. Depois se tornaram grandes amigos. Quando um músico vê outro músico fazendo boa música, passa a sentir admiração e respeito para além de sua nacionalidade.
ÉPOCA – Neste ano, o senhor se apresentará no Brasil, na cidade de Tiradentes, um dos últimos bastiões do barroco mineiro. O que preparou para o público?
Savall – Teremos um programa baseado em composições espanholas e coloniais. O público ouvirá folias, romanescas, variações, canárias e guarachas, que são gêneros da época. Traremos uma fusão da música popular com o barroco. Algo que represente a exuberância do rococó.
As lições de gestão Jorge Paulo Lemann
São Paulo – Hoje mais de 180 000 pessoas em todo o mundo trabalham sob o estilo de gestão forjado pelo senhor da foto acima. Aos 74 anos, o empresário Jorge Paulo Lemann está à frente, junto com seus dois sócios, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, de um império de marcas globais.
Em novembro, Lemann falou sobre sua trajetória e suas crenças nos negócios num evento interno da consultoria Falconi, de Vicente Falconi, em São Paulo, a que EXAME teve acesso exclusivo. A seguir, os principais trechos.
Formação
“Em Harvard, comecei a ter um olho para pessoas. Não gostava da Universidade Harvard quando estava lá. Surfista, tenista, carioca, eu adorava o Arpoador. E, de repente, estava em Harvard. Não era nada confortável para mim. Terminei o curso de economia, nos anos 60, porque minha família achava que era importante.
Minha mãe, filha de um imigrante suíço que se tornou comerciante de cacau na Bahia, teve a oportunidade de estudar fora e era ambiciosa. Ela me tirou da vida de surfista, insistiu para que eu terminasse o curso e abriu meus olhos. Ela sempre me incentivava a fazer coisas maiores.
Em Harvard, vi um mundo muito maior, passei a ler livros que nunca teria lido, de filósofos antigos, coisas desse tipo. E estava num ambiente que pensa grande. Convivia, teoricamente, com algumas das pessoas mais brilhantes dos Estados Unidos e do mundo. Uma das principais características dos meus negócios foi sempre atrair gente boa e ter um olho bom para as boas pessoas.
Isso também veio um pouco de lá porque eu convivia com os melhores. É como arte: quando você está perto de boa arte, você começa a ter um olho bom para arte. Comecei a ter um olho bom para pessoas porque convivia com a nata da nata.
Penei para passar, suei pra burro, descobri métodos de estudo. Comecei a usar a regra de tentar reduzir todas as disciplinas a cinco pontos essenciais. Eram as coisas básicas que eu tinha de saber bem. Hoje em dia é algo que usamos em nossas empresas.
Todas têm cinco metas essenciais, cada profissional tem cinco metas essenciais. Terminei o curso em três anos, embora normalmente dure quatro. Eu queria ir embora, começar a vida, fazer as coisas.”
“Para construir algo duradouro, não dá para pensar só no próximo semestre ou no próximo ano. A verdadeira história começa em 1971, dez anos depois que me formei. Antes disso, patinei um pouco. Trabalhei um ano no Brasil. Fui trabalhar no exterior. Quando voltei, me juntei a outras pessoas que também tinham estudado nas melhores universidades americanas para montar uma financeira.
Depois de uns três ou quatro anos, falimos. Foi traumático para mim. Tinha 26 anos, me achava bom mesmo e descobri que não era tão bom assim. Tive ofertas de emprego em empresas grandes, mas preferi ficar no mercado financeiro e tocar um negócio menor, com mais liberdade de atuação e talvez mais chance de crescimento rápido. Comecei de novo.
O Marcel Telles veio logo no início, seis meses depois que eu tinha criado o banco Garantia. Foi contratado como todo mundo naquela época. Era liquidante, tinha de entregar títulos, ir para o “balé do asfalto”, como chamávamos. O Beto Sicupira chegou mais tarde. Era meu amigo, companheiro de pesca. Tivemos sucesso, as coisas cresceram. O Garantia foi construído quando éramos jovens, muito fominhas, não tínhamos dinheiro nem nome.
O foco estava totalmente em resultados. Assim todos ganharam muito dinheiro. Mas, na crise asiática, nos anos 90, o banco levou um tranco. Nunca correu o risco de desaparecer ou coisa desse tipo, mas levou um tranco depois de mais de 20 anos de sucesso. E isso coincidiu com alguns outros fatos.
Estive muito doente em 1994 e fiquei totalmente ausente. E 1994 foi um ano de grande sucesso. Quando estava por lá e ganhava muito dinheiro, aplicava em outras áreas. Em anos anteriores, compramos a rede varejista Lojas Americanas e depois a cervejaria Brahma. Mas o que ganhamos em 1994 foi distribuído.
Ficou todo mundo muito rico e, quando bateu a crise, o banco já não era mais o mesmo. Era um grupo acostumado com lucros de curto prazo e poucos construtores de um sonho maior no longo prazo. A melhor solução para todo mundo naquele momento foi vender o banco.
A Brahma estava pintando como um sonho maior, melhor. Foi triste, de certa maneira, mas foi a melhor solução. E aprendemos que, para construir algo duradouro, você tem de pensar sempre no que vai dar resultado no longo prazo, e não simplesmente no próximo semestre ou no próximo ano.”
Foco
“Não jogue para a plateia. O esporte é importante na vida de qualquer pessoa e ajuda muito nos negócios também. Ao competir, você começa a relacionar o esforço ao resultado. Não tem resultado sem esforço, sem suor. E, quando você perde, tem de parar e analisar a razão para tentar melhorar na próxima vez.
O tênis foi uma das principais influências na minha vida. Tive um professor chileno que me influenciou muito na maneira que eu vejo as coisas. Ele tinha dois ditados. O primeiro era ‘mucha ropa, poco juego’.
Quer dizer, o cara que aparecia todo bem-vestido e com muitas raquetes, em geral, não jogava nada. O segundo: não jogue para a plateia, mas para ganhar o jogo. Até hoje, muito elogio me deixa preocupado.”
Meritocracia
“Se você não for justo na maneira como avalia as pessoas, a cultura não cola. Construir uma cultura não acontece do dia para a noite. Demora mais de dez anos até que os primeiros trainees pratiquem o que aprenderam, ganhem experiência e estejam prontos para formar a próxima geração.
Estamos sempre tentando escolher gente melhor do que nós. Ninguém é promovido na nossa organização se não tiver alguém tão bom para substituí-lo. Isso gera mais gente boa. Quando fizemos a associação com os belgas e criamos a cervejaria InBev, mandamos 80 brasileiros para lá.
A Ambev tinha 80 brasileiros prontos para exportar, todos vindos desses programas de formação. Depois compramos a cervejaria americana Anheuser-Busch e também tínhamos um exército de gente para mandar para lá e introduzir nossos métodos.
É fácil falar. Mas, para criar essa cultura de verdade, é preciso conversar com trainees o tempo todo, ver se as pessoas são realmente avaliadas de um jeito meritocrático. Isso demanda um esforço grande, tem de acreditar e buscar ser sempre razoável e justo. Se você não for justo na maneira como avalia as pessoas, a cultura não cola. Não adianta enrolar.
Tem de ser correto, fazer o que fala, dar bom exemplo. É aí que você forma uma cultura capaz de mobilizar 140 000 pessoas, como é o caso da AB InBev hoje em dia. Fico surpreso quando vou à China e converso com trainees que nunca vi antes. Eles falam daqueles mesmos valores que já tínhamos há 30 ou 40 anos.
Para chegar a esse ponto, você tem de ter uma certa constância e acreditar naquilo que faz. Tem de acreditar porque funciona e dá certo. E tem de melhorar. Tudo que fizemos, aprendemos e demos uma melhorada.”
Estratégia
“A sorte passa na frente de todo mundo. Alguns agarram e outros não. O sonho de comprar a cervejaria Anheuser-Busch existia 20 anos antes de fecharmos o negócio. Perseguíamos o sonho de chegar ao posto de maior cervejaria do mundo. Aí apareceu a oportunidade. Era uma questão de honra.
O mercado financeiro não estava pintando bem, mas não parecia trágico. Fomos em frente. Assumimos uma compra de mais de 50 bilhões de dólares, a maior parte por dívidas, e depois veio a crise financeira.
Nem sabíamos se os bancos que tinham prometido financiamento estariam lá ainda. Mas já estávamos ali, não tínhamos como pedalar para trás. A solução era rodar para a frente mesmo, fazer o melhor possível e sobreviver. Tentar transformar aquilo que era um momento extremamente difícil em algo muito bom.
Foi um transtorno enorme, um pavor durante quase um ano. No fim conseguimos quase dobrar a rentabilidade da cervejaria logo após os dois primeiros anos. E até nos beneficiar de uma situação crítica. Diante da crise financeira, os juros baixaram enormemente. Tínhamos feito a compra de um ativo que rendia bem, que melhorava rapidamente e passamos a pagar juros baixíssimos, num patamar histórico.
Risco faz parte da vida, você tem de correr risco. Já tínhamos feito isso antes, na compra da Lojas Americanas num setor sobre o qual não entendíamos absolutamente nada. Depois compramos a Brahma, um negócio maior.
A mensagem: é preciso correr alguns riscos na vida e o melhor é ir praticando pouco a pouco. No caso da Anheuser-Busch, o risco talvez estivesse num patamar acima do que deveríamos ter aceito. Mas graças a Deus sobrevivemos e estamos aí. Se fosse para correr um risco daquele tamanho novamente, talvez pensássemos melhor diante das circunstâncias gerais do mercado.
Na vida é preciso ter um pouco de sorte também. Diz o meu guru, Jim Collins, que a sorte existe nos negócios, mas em geral ela sorri para quem está pronto para arriscar um pouco. A sorte passa na frente de todo mundo. Alguns agarram e outros não. Nós tivemos sorte e agarramos a oportunidade.”
Sócios
“Temos aí um bando de gente melhor do que nós hoje em dia. Descobrimos cedo que, numa sociedade, é bom ter pessoas diferentes. Não pode ser todo mundo igual. Pessoas diferentes têm habilidades diferentes. Tem gente que se sai muito bem na retaguarda. Outros são ótimos em vendas.
O Marcel, o Beto e eu temos características diferentes, mas princípios similares. Acreditamos em meritocracia, em atrair o melhor talento. Em manter custos no nível mais baixo possível, até por ser o único elemento de um negócio que você realmente consegue controlar. E basicamente queremos encontrar sempre pessoas melhores do que nós. Temos aí um bando de gente melhor do que nós hoje em dia.
Sempre tentamos administrar tudo com simplicidade, objetividade. Nada é muito enrolado nas nossas coisas. É preciso ter muita comunicação sempre, todos trabalham em espaços abertos.
Estamos aí, 40 anos depois: nos damos bem, cada um com suas habilidades, e todos aceitam as habilidades do outro. E nossos sonhos grandes sempre foram bastante similares. Nunca estamos satisfeitos, queremos sempre chegar a algum lugar melhor. Por isso vamos tentar continuar.”
Método
“Não teríamos chegado até aqui sem disciplina. Não teríamos conseguido chegar aonde chegamos sem disciplina, algo que o consultor Vicente Falconi trouxe para nós. Viemos do mercado financeiro e nele ganhava-se tanto dinheiro que não era preciso ser muito eficiente. Tínhamos todos aqueles princípios de meritocracia, de não gastar muito. Mas não tínhamos muita racionalidade no método operacional.
E o Marcel foi lá para a Brahma e introduziu os princípios que existiam no banco, de meritocracia, de atrair as melhores pessoas. Mas não tínhamos talento nem disciplina de racionalizar a parte operacional ou dissecar as coisas para ver como poderiam ser feitas mais eficientemente.
Essa foi a grande contribuição do Falconi, que tinha estudado métodos japoneses de just in time e outras coisas. Com 300 pessoas, no máximo, isso não era tão importante no banco Garantia. Numa empresa como a AB InBev, porém, foi essencial.”
Governança
“O conselheiro é um defensor da cultura. O papel dos conselheiros é basicamente representar os acionistas para que a companhia seja melhor lá na frente. O conselheiro é um defensor da cultura. Ele deve escolher quem serão os executivos no futuro e atrair outros conselheiros bons para trabalhar com ele.
Participei de alguns conselhos de grandes empresas com muitos acionistas, sem dono. Francamente, nesse tipo de empresa, o conselheiro é um cara que não sabe muito o que está se passando. Não gostei da experiência. Fui conselheiro da antiga fabricante de produtos de higiene pessoal Gillette, da seguradora Swiss Reinsurance e da montadora DaimlerChrysler.
No nosso conselho, os integrantes se interessam em saber mais. Quando vamos à China tomamos café com trainees, visitamos o mercado. Tentamos falar com os executivos, mas sem interferir. Por exemplo, nunca falamos com os executivos para dar uma instrução direta a eles.
Se tivermos algum comentário, falamos primeiro com o Carlos Brito, presidente da AB InBev, e ele vai dar a instrução depois. Gostamos de ter a liberdade de saber o que está se passando, ouvir as pessoas e passear um pouco pela companhia. Saber o que está se passando para poder ser um conselheiro melhor.”
Motivação
“As pessoas querem ter um sonho grande. As pessoas gostam de participar de um sonho maior. É prazeroso ser reconhecido pelas pessoas ao redor e se sentir também dono daquilo. É prazeroso ser criativo. Nas nossas empresas, se alguém quiser fazer algo diferente, vamos tentar dar a oportunidade.
As pessoas querem ter um sonho grande, querem participar e obviamente querem ser reconhecidas também. Pode ser financeiramente, mas conheço várias instituições filantrópicas que não remuneram as pessoas, não dão nenhum centavo, só medalhinhas, e o pessoal se mata. É da natureza humana valorizar e querer reconhecimento.”
Cultura
“Copiar é muito mais prático do que inventar a roda. A originalidade de nossa cultura está em misturar uma porção de coisas boas que vimos em vários lugares e ter aprimorado todas elas. Copiar é muito mais prático do que inventar a roda. A primeira fonte de inspiração foi o banco Goldman Sachs, porque éramos do mercado financeiro.
O Goldman não era a potência que se tornou depois, mas já era um lugar especial. Nosso sistema de procurar talentos teve origem ali. Esse nosso princípio de que as pessoas têm de ser donas e agir como donas também trouxemos de lá. Depois, copiamos o varejista Walmart.
Ali aprendemos muito sobre eficiência e a manter os custos baixos. Quando íamos visitar o fundador, Sam Walton, conhecíamos dez lojas por dia. Essa foi a maneira que ele criou para saber o que estava acontecendo no dia a dia e para difundir a cultura. Também fomos adeptos de Jack Welch, ex-presidente da multinacional GE.
Líamos tudo o que ele escrevia. Mais tarde surgiu a influência de Jim Collins, um guru de administração, com quem convivemos há mais de 20 anos e que tem grande influência no jeito como tocamos as empresas.”
Filantropia
“Estamos construindo algo para ser duradouro. Comecei a distribuir bolsas informalmente. Devo ter dado umas 500 bolsas e nem sabia mais para quem tinha dado. Aí decidi que era hora de formalizar melhor aquilo. O Beto e o Marcel se juntaram a mim e organizamos a Fundação Estudar. O objetivo inicial era ajudar pessoas que queriam estudar, especialmente no exterior.
Depois passamos a ajudar quem queria estudar aqui também. Os bolsistas começaram a voltar e a formar uma rede de contatos. Vimos que essa rede era tão ou mais importante que o apoio financeiro. Tínhamos eventos em que eles se conheciam, trocavam figurinhas, um encontrava o outro, um ajudava o outro.
Há quase 1 000 bolsistas por aí. Temos reuniões anuais, vários eventos. Ultimamente temos dado bolsas não só para o pessoal que estuda economia ou negócios, abrimos um pouco o leque. Na fundação, assim como em outras atividades, estamos construindo algo para ser duradouro.”
Futuro
“Temos sonhos maiores. No momento estamos digerindo a Heinz. Se tivermos sucesso em colocar a empresa num rumo mais eficiente, de maior retorno, ela se tornará uma plataforma espetacular de expansão.
A Heinz em si pode ser um sonho muito grande, mas nós estamos ainda na fase de digerir a empresa, de torná-la mais eficiente. Estamos lá há poucos meses, e está indo bem. Também temos outros sonhos maiores, mas ainda não dá para falar sobre eles.”
________________________________________________________________________
Discurso do Papa Francisco – Teatro Municipal 27/07/2013
Excelências,
Senhoras e Senhores!
Agradeço a Deus pela possibilidade de me encontrar com tão respeitável representação dos responsáveis políticos e diplomáticos, culturais e religiosos, acadêmicos e empresariais deste Brasil imenso. Saúdo cordialmente a todos e lhes expresso o meu reconhecimento.
Queria lhes falar usando a bela língua portuguesa de vocês mas, para poder me expressar melhor manifestando o que trago no coração, prefiro falar em castelhano. Peço-vos a cortesia de me perdoar!
Agradeço as amáveis palavras de boas vindas e de apresentação de Dom Orani e do jovem Walmyr Júnior. Nas senhoras e nos senhores, vejo a memória e a esperança: a memória do caminho e da consciência da sua Pátria e a esperança que esta, sempre aberta à luz que irradia do Evangelho de Jesus Cristo, possa continuar a desenvolver-se no pleno respeito dos princípios éticos fundados na dignidade transcendente da pessoa.
Todos aqueles que possuem um papel de responsabilidade, em uma Nação, são chamados a enfrentar o futuro “com os olhos calmos de quem sabe ver a verdade”, como dizia o pensador brasileiro Alceu Amoroso Lima [“Nosso tempo”, in: A vida sobrenatural e o mundo moderno (Rio de Janeiro 1956), 106]. Queria considerar três aspectos deste olhar calmo, sereno e sábio: primeiro, a originalidade de uma tradição cultural; segundo, a responsabilidade solidária para construir o futuro; e terceiro, o diálogo construtivo para encarar o presente.
1. É importante, antes de tudo, valorizar a originalidade dinâmica que caracteriza a cultura brasileira, com a sua extraordinária capacidade para integrar elementos diversos. O sentir comum de um povo, as bases do seu pensamento e da sua criatividade, os princípios fundamentais da sua vida, os critérios de juízo sobre as prioridades, sobre as normas de ação, assentam numa visão integral da pessoa humana. Esta visão do homem e da vida, tal como a fez própria o povo brasileiro, muito recebeu da seiva do Evangelho através da Igreja Católica: primeiramente a fé em Jesus Cristo, no amor de Deus e a fraternidade com o próximo. Mas a riqueza desta seiva deve ser plenamente valorizada! Ela pode fecundar um processo cultural fiel à identidade brasileira e construtor de um futuro melhor para todos. Assim se expressou o amado Papa Bento XVI, no discurso de abertura da V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, em Aparecida.
Fazer que a humanização integral e a cultura do encontro e do relacionamento cresçam é o modo cristão de promover o bem comum, a felicidade de viver. E aqui convergem a fé e a razão, a dimensão religiosa com os diversos aspectos da cultura humana: arte, ciência, trabalho, literatura… O cristianismo une transcendência e encarnação; sempre revitaliza o pensamento e a vida, frente a desilusão e o desencanto que invadem os corações e saltam para a rua.
2. O segundo elemento que queria tocar é a responsabilidade social. Esta exige um certo tipo de paradigma cultural e, consequentemente, de política. Somos responsáveis pela formação de novas gerações, capacitadas na economia e na política, e firmes nos valores éticos. O futuro exige de nós uma visão humanista da economia e uma política que realize cada vez mais e melhor a participação das pessoas, evitando elitismos e erradicando a pobreza. Que ninguém fique privado do necessário, e que a todos sejam asseguradas dignidade, fraternidade e solidariedade: esta é a via a seguir. Já no tempo do profeta Amós era muito forte a advertência de Deus: «Eles vendem o justo por dinheiro, o indigente, por um par de sandálias; esmagam a cabeça dos fracos no pó da terra e tornam a vida dos oprimidos impossível» (Am 2, 6-7). Os gritos por justiça continuam ainda hoje.
Quem detém uma função de guia deve ter objetivos muito concretos, e buscar os meios específicos para consegui-los. Pode haver, porém, o perigo da desilusão, da amargura, da indiferença, quando as aspirações não se cumprem. A virtude dinâmica da esperança incentiva a ir sempre mais longe, a empregar todas as energias e capacidades a favor das pessoas para quem se trabalha, aceitando os resultados e criando condições para descobrir novos caminhos, dando-se mesmo sem ver resultados, mas mantendo viva a esperança.
A liderança sabe escolher a mais justa entre as opções, após tê-las considerado, partindo da própria responsabilidade e do interesse pelo bem comum; esta é a forma para chegar ao centro dos males de uma sociedade e vencê-los com a ousadia de ações corajosas e livres. No exercício da nossa responsabilidade, sempre limitada, é importante abarcar o todo da realidade, observando, medindo, avaliando, para tomar decisões na hora presente, mas estendendo o olhar para o futuro, refletindo sobre as consequências de tais decisões. Quem atua responsavelmente, submete a própria ação aos direitos dos outros e ao juízo de Deus. Este sentido ético aparece, nos nossos dias, como um desafio histórico sem precedentes. Além da racionalidade científica e técnica, na atual situação, impõe-se o vínculo moral com uma responsabilidade social e profundamente solidária.
3. Para completar o “olhar” que me propus, além do humanismo integral, que respeite a cultura original, e da responsabilidade solidária, termino indicando o que tenho como fundamental para enfrentar o presente: o diálogo construtivo. Entre a indiferença egoísta e o protesto violento, há uma opção sempre possível: o diálogo. O diálogo entre as gerações, o diálogo com o povo, a capacidade de dar e receber, permanecendo abertos à verdade. Um país cresce, quando dialogam de modo construtivo as suas diversas riquezas culturais: cultura popular, cultura universitária, cultura juvenil, cultura artística e tecnológica, cultura econômica e cultura familiar e cultura da mídia. É impossível imaginar um futuro para a sociedade, sem uma vigorosa contribuição das energias morais numa democracia que evite o risco de ficar fechada na pura lógica da representação dos interesses constituídos. Será fundamental a contribuição das grandes tradições religiosas, que desempenham um papel fecundo de fermento da vida social e de animação da democracia. Favorável à pacífica convivência entre religiões diversas é a laicidade do Estado que, sem assumir como própria qualquer posição confessional, respeita e valoriza a presença do fator religioso na sociedade, favorecendo as suas expressões concretas.
Quando os líderes dos diferentes setores me pedem um conselho, a minha resposta é sempre a mesma: diálogo, diálogo, diálogo. A única maneira para uma pessoa, uma família, uma sociedade crescer, a única maneira para fazer avançar a vida dos povos é a cultura do encontro; uma cultura segundo a qual todos têm algo de bom para dar, e todos podem receber em troca algo de bom. O outro tem sempre algo para nos dar, desde que saibamos nos aproximar dele com uma atitude aberta e disponível, sem preconceitos. Só assim pode crescer o bom entendimento entre as culturas e as religiões, a estima de umas pelas outras livre de suposições gratuitas e no respeito pelos direitos de cada uma. Hoje, ou se aposta na cultura do encontro, ou todos perdem; percorrer a estrada justa torna o caminho fecundo e seguro.
Excelências,
Senhoras e Senhores!
Agradeço-lhes pela atenção. Acolham estas palavras como expressão da minha solicitude de Pastor da Igreja e do amor que nutro pelo povo brasileiro. A fraternidade entre os homens e a colaboração para construir uma sociedade mais justa não constituem uma utopia, mas são o resultado de um esforço harmônico de todos em favor do bem comum. Encorajo os senhores no seu empenho em favor do bem comum, que exige da parte de todos sabedoria, prudência e generosidade.
Confio-lhes ao Pai do Céu, pedindo-lhe, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que cumule de seus dons a cada um dos presentes, suas respectivas famílias e comunidades humanas de trabalho e, de coração, a todos concedo a minha Bênção.
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Homilia do Papa Francisco na missa inaugural
“Queridos irmãos e irmãs!
Agradeço ao Senhor por poder celebrar esta Santa Missa de início do ministério petrino na solenidade de São José, esposo da Virgem Maria e patrono da Igreja universal: é uma coincidência densa de significado e é também o onomástico do meu venerado Predecessor: acompanhamo-lo com a oração, cheia de estima e gratidão.
Saúdo, com afeto, os Irmãos Cardeais e Bispos, os sacerdotes, os diáconos, os religiosos e as religiosas e todos os fiéis leigos. Agradeço, pela sua presença, aos Representantes das outras Igrejas e Comunidades eclesiais, bem como aos representantes da comunidade judaica e de outras comunidades religiosas. Dirijo a minha cordial saudação aos Chefes de Estado e de Governo, às Delegações oficiais de tantos países do mundo e ao Corpo Diplomático.
Ouvimos ler, no Evangelho, que “José fez como lhe ordenou o anjo do Senhor e recebeu sua esposa” (Mt 1, 24). Nestas palavras, encerra-se já a missão que Deus confia a José: ser guardião. Guardião de quem? De Maria e de Jesus, mas é uma guarda que depois se alarga à Igreja, como sublinhou o Beato João Paulo II: “São José, assim como cuidou com amor de Maria e se dedicou com empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo, assim também guarda e protege o seu Corpo místico, a Igreja, da qual a Virgem Santíssima é figura e modelo” (Exort. ap. Redemptoris Custos, 1).
Como realiza José esta guarda? Com discrição, com humildade, no silêncio, mas com uma presença constante e uma fidelidade total, mesmo quando não consegue entender. Desde o casamento com Maria até ao episódio de Jesus, aos doze anos, no templo de Jerusalém, acompanha com solicitude e amor cada momento. Permanece ao lado de Maria, sua esposa, tanto nos momentos serenos como nos momentos difíceis da vida, na ida a Belém para o recenseamento e nas horas ansiosas e felizes do parto; no momento dramático da fuga para o Egito e na busca preocupada do filho no templo; e depois na vida quotidiana da casa de Nazaré, na carpintaria onde ensinou o ofício a Jesus.
Como vive José a sua vocação de guardião de Maria, de Jesus, da Igreja? Numa constante atenção a Deus, aberto aos seus sinais, disponível mais ao projeto d’Ele que ao seu. E isto mesmo é o que Deus pede a David, como ouvimos na primeira Leitura: Deus não deseja uma casa construída pelo homem, mas quer a fidelidade à sua Palavra, ao seu desígnio; e é o próprio Deus que constrói a casa, mas de pedras vivas marcadas pelo seu Espírito. E José é “guardião”, porque sabe ouvir a Deus, deixa-se guiar pela sua vontade e, por isso mesmo, se mostra ainda mais sensível com as pessoas que lhe estão confiadas, sabe ler com realismo os acontecimentos, está atento àquilo que o rodeia, e toma as decisões mais sensatas. Nele, queridos amigos, vemos como se responde à vocação de Deus: com disponibilidade e prontidão; mas vemos também qual é o centro da vocação cristã: Cristo. Guardemos Cristo na nossa vida, para guardar os outros, para guardar a criação!
Entretanto, a vocação de guardião não diz respeito apenas a nós, cristãos, mas tem uma dimensão antecedente, que é simplesmente humana e diz respeito a todos: é a de guardar a criação inteira, a beleza da criação, como se diz no livro de Gênesis e nos mostrou São Francisco de Assis: é ter respeito por toda a criatura de Deus e pelo ambiente onde vivemos. É guardar as pessoas, cuidar carinhosamente de todas elas e cada uma, especialmente das crianças, dos idosos, daqueles que são mais frágeis e que muitas vezes estão na periferia do nosso coração. É cuidar uns dos outros na família: os esposos guardam-se reciprocamente, depois, como pais, cuidam dos filhos, e, com o passar do tempo, os próprios filhos tornam-se guardiões dos pais. É viver com sinceridade as amizades, que são um mútuo guardar-se na intimidade, no respeito e no bem. Fundamentalmente tudo está confiado à guarda do homem, e é uma responsabilidade que nos diz respeito a todos. Sede guardiões dos dons de Deus!
E quando o homem falha nesta responsabilidade, quando não cuidamos da criação e dos irmãos, então encontra lugar a destruição e o coração fica ressequido. Infelizmente, em cada época da história, existem “Herodes” que tramam desígnios de morte, destroem e deturpam o rosto do homem e da mulher.
Queria pedir, por favor, a quantos ocupam cargos de responsabilidade em âmbito econômico, político ou social, a todos os homens e mulheres de boa vontade: sejamos “guardiães” da criação, do desígnio de Deus inscrito na natureza, guardiões do outro, do ambiente; não deixemos que sinais de destruição e morte acompanhem o caminho deste nosso mundo! Mas, para “guardar”, devemos também cuidar de nós mesmos. Lembremo-nos de que o ódio, a inveja, o orgulho sujam a vida; então guardar quer dizer vigiar sobre os nossos sentimentos, o nosso coração, porque é dele que saem as boas intenções e as más: aquelas que edificam e as que destroem. Não devemos ter medo de bondade,
A propósito, deixai-me acrescentar mais uma observação: cuidar, guardar requer bondade, requer ser praticado com ternura. Nos Evangelhos, São José aparece como um homem forte, corajoso, trabalhador, mas, no seu íntimo, sobressai uma grande ternura, que não é a virtude dos fracos, antes pelo contrário denota fortaleza de ânimo e capacidade de solicitude, de compaixão, de verdadeira abertura ao outro, de amor. Não devemos ter medo da bondade, da ternura!
Hoje, juntamente com a festa de São José, celebramos o início do ministério do novo Bispo de Roma, Sucessor de Pedro, que inclui também um poder. É certo que Jesus Cristo deu um poder a Pedro, mas de que poder se trata? À tríplice pergunta de Jesus a Pedro sobre o amor, segue-se o tríplice convite: apascenta os meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas. Não esqueçamos jamais que o verdadeiro poder é o serviço, e que o próprio Papa, para exercer o poder, deve entrar sempre mais naquele serviço que tem o seu vértice luminoso na Cruz; deve olhar para o serviço humilde, concreto, rico de fé, de São José e, como ele, abrir os braços para guardar todo o Povo de Deus e acolher, com afeto e ternura, a humanidade inteira, especialmente os mais pobres, os mais fracos, os mais pequeninos, aqueles que Mateus descreve no Juízo final sobre a caridade: quem tem fome, sede, é estrangeiro, está nu, doente, na prisão (cf. Mt 25, 31-46). Apenas aqueles que servem com amor capaz de proteger.
Na segunda Leitura, São Paulo fala de Abraão, que acreditou «com uma esperança, para além do que se podia esperar» (Rm 4, 18). Com uma esperança, para além do que se podia esperar! Também hoje, perante tantos pedaços de céu cinzento, há necessidade de ver a luz da esperança e de darmos nós mesmos esperança. Guardar a criação, cada homem e cada mulher, com um olhar de ternura e amor, é abrir o horizonte da esperança, é abrir um rasgo de luz no meio de tantas nuvens, é levar o calor da esperança! E, para o crente, para nós cristãos, como Abraão, como São José, a esperança que levamos tem o horizonte de Deus que nos foi aberto em Cristo, está fundada sobre a rocha que é Deus.
Guardar Jesus com Maria, guardar a criação inteira, guardar toda a pessoa, especialmente a mais pobre, guardarmo-nos a nós mesmos: eis um serviço que o Bispo de Roma está chamado a cumprir, mas para o qual todos nós estamos chamados, fazendo resplandecer a estrela da esperança: Guardemos com amor aquilo que Deus nos deu!
Peço a intercessão da Virgem Maria, de São José, de São Pedro e São Paulo, de São Francisco, para que o Espírito Santo acompanhe o meu ministério, e, a todos vós, digo: rezai por mim! Amém.”
________________________________________________________________________
Saída para Diabéticos
Dr. AMÉLIO GODOY- MATOS
O mundo moderno se defronta com especiais epidemias que, diferentemente do passado, não são transmitidas por vírus ou bactérias. Elas nascem do nosso estilo de vida.
O diabetes está entre as doenças mais prevalentes da atualidade e merece especial consideração. Para se ter uma idéia, todos os anos são registrados cerca de 3,8 milhões de óbitos ocasionados pelo diabetes. Estima-se que a cada 10 segundos um novo paciente se torne diabético e, segundo previsões, em 2025 mais de 330 milhões de pessoas sofrerão com a doença em todo o mundo.
Os problemas cardiovasculares como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, são as maiores causas de mortalidade no diabético. O que é lamentável e ao mesmo tempo instigante, já que é possível evitar esses problemas com prevenção.
Podemos entender o diabetes como um grande edifício que é construído com base em um alicerce genético, mas que se sustenta com tijolos e cimentos fornecidos por fatores externos, como a alimentação e o sedentarismo. Os genes, nesse caso, não determinam a doença e sim definem como o organismo irá reagir ao ambiente. Como são os hábitos da vida moderna que nos projetam para a obesidade e o diabetes, concluímos então que essa “construção” é evitável.
Para tal, é preciso evitar a eclosão do diabetes em seus estágios ainda iniciais, chamados de intolerância à glicose ou pré-diabetes. Estudos recentes demonstram que mudanças simples no estilo de vida, como dieta e exercícios físicos, podem prevenir o diabetes em até 58% dos casos, e que alguns medicamentos chegam a prevenir até 70% de novos casos. Nos indivíduos que apresentam a chamada “Síndrome Metabólica” – obesidade abdominal, hipertensão arterial, níveis elevados de triglicerídeos e baixos níveis do bom colesterol (HDL) – hábitos saudáveis podem prevenir, além do diabetes, outras complicações cardiovasculares.
Mais difícil todavia, é desconstruir o diabetes em estágios avançados. Difícil, não impossível. Para isso, é preciso que o médico e o paciente juntem esforços desde o diagnóstico. E, mais uma vez, o mais efetivo dos tratamentos é também o mais antigo: a dieta !
Um estudo recente no Reino Unido demonstrou que uma dieta mais severa foi capaz de “reverter” o diabetes e até a suspender os remédios nos pacientes estudados. Logo, se aliada a um tratamento medicamentoso adequado, pode-se, esperaçosamente, deter a sua evolução. Muitos duvidam da eficácia da dieta com baixo teor de carboidratos no controle do diabetes, mas a racionalidade é simples: o que eleva os níveis de açúcar é o carboidrato, logo, restringí-los é a melhor forma de não fornecer substrato à construção do diabetes.
Os fatos sugerem que o diabetes pode ser desconstruído ou ter a sua evolução embargada se diagnosticado e tratado nos estágios iniciais.
AMÉLIO GODOY-MATOS é chefe do Serviço de Metabologia do IEDE-PUC-Rio.
________________________________________________________________________




________________________________________________________________________